Repórter chegou a receber escolta de um jornal por causa de ameaças que recebeu, mas pediu que seguranças não andassem de terno: ‘Meus vizinhos de Itaquera poderiam pensar que eu era rico e importante. Aí sim eu correria risco’
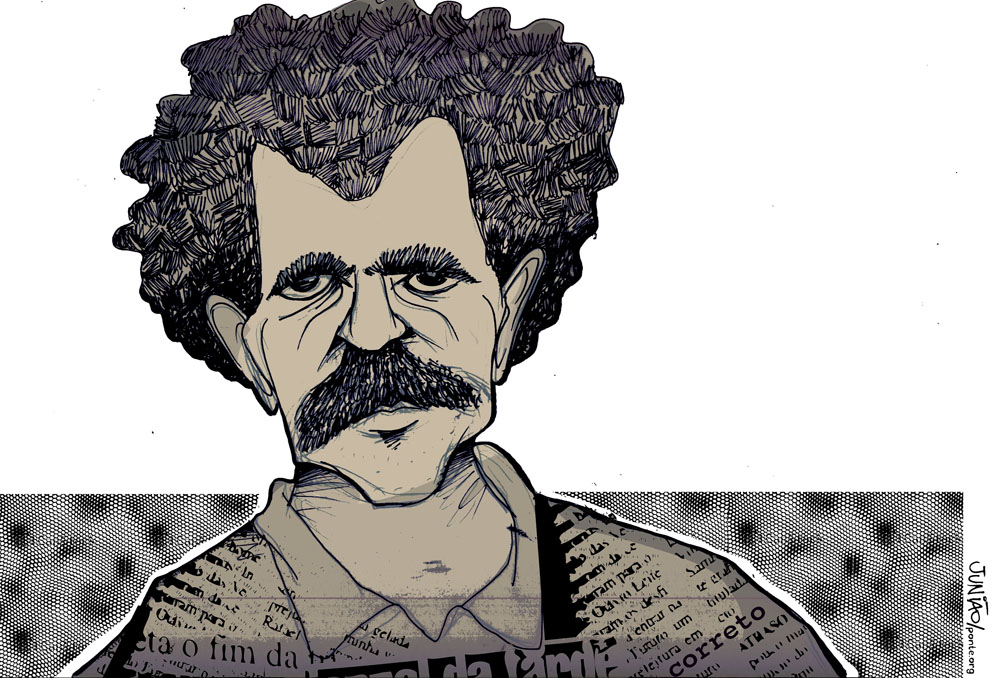
Baianinho filho da puta. Era dessa forma, discriminatória e ofensiva, que o delegado Vagner Giudice se referia à minha pessoa em conversas com seus subordinados, de sua confiança, e com outros policiais seus amigos. Ele se tornou meu desafeto por causa de uma reportagem que fiz sobre uma série de corpos encontrados sem cabeça em Franco da Rocha e Francisco Morato, na Grande São Paulo, em meados dos anos 90.
Josmar Jozino lança livro de memórias sobre os bastidores do jornalismo
Giudice trabalhava no DHPP e investigava os homicídios. Eu fui à delegacia onde ele era titular em busca de informações sobre as mortes. O delegado me disse que os inquéritos estavam no fórum e que não poderia me dar nenhum detalhe.
Havia suspeitas de que os assassinos eram policiais militares. Procurei então o comandante da PM na região. O oficial me autorizou a ir ao batalhão de Franco da Rocha e consultar todos os Inquéritos Policiais Militares (IPMs) abertos para investigar as mortes dos decapitados. Apurei que um sargento da PM havia sido decapitado na região e que depois da morte dele começaram a aparecer os corpos sem cabeça. Eram dezenas de vítimas mutiladas. A maioria era encontrada sem as mãos e sem a cabeça para dificultar a identificação. Por isso os IPMs foram instaurados. Para apurar se as vítimas tinham sido decapitadas em represália à morte do sargento. Os indícios eram de que já naquela época poderia haver um grupo de PMs higlanders, cortadores de cabeça.
As investigações estavam em andamento e não tinham, na ocasião, comprovado o envolvimento de policiais militares naquelas mortes. A matéria saiu com destaque no Diário Popular. Daquele dia em diante o delegado Vagner Giudice não quis mais falar comigo. Ficou puto com a reportagem. Alegou que eu havia prejudicado o seu trabalho de investigação.
Giudice também ficou bravo com uma matéria assinada por Fábio Diamante no mesmo jornal. A reportagem era sobre o assassinato de Patrícia Aggio Longo, mulher do promotor de Justiça Igor Ferreira. Diamante apontou na matéria as falhas do inquérito presidido por Giudice, responsável pela investigação do caso. Patrícia foi morta a tiros e estava grávida de sete meses.
O então promotor de Justiça era o principal suspeito do crime. Na reportagem, Diamante revelou que uma das falhas do delegado nas investigações foi não pedir o exame de DNA para saber se Igor era o pai do bebê de Patrícia.
Tempos depois, a Justiça determinou a realização do exame de DNA. O resultado foi negativo. Giudice não estava mais no DHPP. Trabalhava no DIRD (Divisão de Registros Diversos), da Polícia Civil.
Diamante o procurou para saber a versão dele sobre o resultado do teste de DNA. Giudice disse ao repórter que sempre teve convicção de que o bebê não era filho do promotor. Porém, em declarações anteriores, ele afirmou ao repórter que não iria pedir o exame de DNA porque sabia que Igor era o pai da criança.
Fábio Diamante fez outra reportagem, publicada no Diário Popular em 15 de junho de 1999, sobre outro tema envolvendo o delegado. Dessa vez o repórter informava que o delegado uma hora falava uma coisa e em outra dava versão diferente sobre o caso Igor. O delegado leu a matéria e ficou novamente enraivecido. Ele investigava a máfia dos fiscais. Depois de conceder entrevista, ele comentou informalmente com um grupo de repórteres que não gostou da reportagem de Fábio Diamante e fez uma grave ameaça:
— Vou dar um tiro na cara dele e aproveitar para dar outro na cara do Josmar.
A repórter Viviane Raymundi, do Diário, estava no DIRD naquele dia e ouviu a ameaça do delegado. Assim que chegou à redação, ela comunicou o fato à direção do jornal.
Fábio Diamante não gostou nada da atitude do delegado e insistiu para que eu fosse com ele à Corregedoria da Polícia Civil. E foi o que fizemos. Prestamos queixa contra o delegado. Posteriormente, decidimos não levar o caso adiante.
Em 2001, Igor foi condenado a 16 anos de prisão pelo assassinato da mulher. Anos depois, quando trabalhava na TV Bandeirantes, Fábio Diamante encontrou-se com Giudice na DAS (Divisão Anti-Sequestro) durante uma reportagem. Ambos tiveram uma longa conversa. Segundo Diamante, Giudice se desculpou, disse que os dois eram jovens na época das ameaças e pensavam com o “fígado”. O delegado chegou até a fornecer o número de seu telefone celular para o repórter.
Mas comigo ele não queria conversa. E, segundo um delegado, seu superior na hierarquia da Polícia Civil, ele continuava se referindo a mim como “baianinho filho da puta”.
Giudice passou a me odiar mais ainda em meados dos anos 2000. Eu era repórter do Jornal da Tarde. E havia obtido umas fotos de um homem acusado por sequestro e preso pela DAS. As fotos eram impressionantes e mostravam o acusado pendurado em um “pau de arara”, um instrumento de tortura que consiste em uma barra de ferro atravessada entre os punhos amarrados e a dobra dos joelhos dos torturados.
Esse método de tortura, muito comum na época da ditadura militar, nos anos 60 e 70, era utilizado para forçar o preso a confessar algum crime. O suspeito ficava pendurado no cavalete e era torturado com choques elétricos, inclusive nas partes íntimas, e espancado com golpes de cassetetes.
Na época da ditadura militar no Brasil e algumas décadas depois, essa prática de tortura ainda era usada na maioria das delegacias da Polícia Civil de São Paulo. Um dos torturadores mais temidos era o delegado Sérgio Paranhos Fleury.
Até hoje existem muitos policiais civis e militares que elogiam os métodos de tortura de Sérgio Fleury. Cansei de ouvir em delegacias da Polícia Civil delegados, investigadores, escrivães, carcereiros e até PMs rasgarem elogios ao torturador da ditadura militar, afirmando que sentiam saudades do tempo dele. Quem elogia o delegado Fleury, um dos maiores repressores da história do País, morto em 1979, em Ilhabela, litoral norte de São Paulo, é defensor da tortura.
O acusado pelo sequestro, preso pela equipe do delegado Giudice, estava recolhido na Penitenciária de Riolândia, no Interior do Estado, quando eu consegui as fotos da tortura. Eu e o repórter fotográfico Alex Silva viajamos de avião até São José do Rio Preto. De lá alugamos um carro e fomos para Riolândia entrevistar o detento. Ele contou que foi torturado por policiais civis nas dependências da DAS, cuja delegacia, na época, ficava em um casarão na avenida Higienópolis. O caso foi investigado pela Corregedoria da Polícia Civil, mas nada foi provado.
Vagner Giudice morreu aos 52 anos, em 17 de setembro de 2016. Ele sofreu um infarto em Fernando de Noronha, onde passava férias com a família. Assim como outros colegas jornalistas, eu também lamentei a morte do delegado.
A ameaça que Giudice fez a mim e a Fábio Diamante não foi a única que sofri em minha carreira. No Diário de S. Paulo tive de andar com escolta durante quatro meses e fiquei afastado do serviço por 40 dias.
Tudo começou em 23 de junho de 2003. Me lembro bem. Era uma segunda-feira. O jornal recebeu uma carta anônima dizendo que eu e outras nove pessoas, entre jornalistas, delegados da Polícia Civil, um promotor de Justiça, uma juíza e o então secretário da Administração Penitenciária, Nagashi Furukawa, seríamos assassinados.
A carta tinha assinatura com a inscrição PCC. A mensagem dizia que se o governo continuasse afrontando a facção criminosa, internando seus líderes no RDD, nós seríamos executados.
O apresentador José Luís Datena era um dos ameaçados. O caso foi noticiado no programa dele e disseram até que eu já havia deixado o País. Meu pai estava internado na UTI. Minha mãe estava em casa e ouviu a reportagem na TV. Ficou desesperada. Minha mulher e meu filho também ficaram em pânico. O telefone da minha casa não parava de tocar. Todos queriam saber se eu realmente estava ameaçado de morte e se havia mesmo saído do Brasil.
No outro dia, o PCC divulgou uma carta à imprensa dizendo que não havia ameaçado matar jornalistas nem autoridades. A correspondência dizia que a facção “estava sendo usado como bode expiatório”.
A direção do Diário de S. Paulo não quis saber se as ameaças procediam ou não nem de onde elas tinham partido. A empresa tomou as precauções necessárias por ordem das Organizações Globo, à época dona do jornal. Ninguém queria outra tragédia como a de Tim Lopes, jornalista morto no ofício do seu trabalho no Rio.
O jornal primeiro me ofereceu uma viagem por tempo indeterminado para os Estados Unidos ou Europa. Como eu recusei por causa do estado de saúde de meu pai e para não ficar longe da família, os chefes decidiram que eu seria afastado do serviço e passaria a andar com escolta.
Não tive escolha. No dia seguinte, bem no início da manhã, assim que acordei vi dois engravatados parados na calçada em frente à minha casa. Eram os seguranças. Usavam ternos pretos.
Pedi gentilmente que não viessem mais com roupas sociais. Meus vizinhos de Itaquera poderiam pensar que eu era rico e importante. Aí sim eu correria risco. Inclusive de ser sequestrado.
Não parava de pensar no que faria na quarentena forçada, como passaria os dias. Resolvi então escrever Cobras e Lagartos. A escolta ficava comigo dia e noite. E com ela eu pude ir várias vezes às casas das mulheres dos líderes do PCC. Sem as informações dessas fontes importantes, não teria escrito aquele livro.
A ameaça mais preocupante veio dois anos depois. E não foi de morte. Em setembro de 2005, quando era repórter do JT, um carteiro acionou o interfone da minha casa. Tinha em mãos uma carta registrada. Precisava da assinatura de um morador para comprovar a entrega. O envelope tinha timbre do Ministério Público do Estado de São Paulo. Era um ofício do Gaeco de Presidente Prudente, informando que um dos fundadores do PCC fazia graves acusações contra mim.
Esse fundador do PCC, preso em uma penitenciária do Interior, estava inconformado com uma informação contida em Cobras e Lagartos, na qual a Polícia Civil o apontava como suspeito de ser o mandante de atentado contra um agente penitenciário. A vítima levou cinco tiros, mas sobreviveu.
O preso fez uma representação ao Gaeco. Alegou que eu havia cometido crime de calúnia. Pediu que eu fosse processado e convocado pela Justiça para apresentar as provas contra ele. Também solicitou o embargo de todos os exemplares do livro.
Na representação, o fundador do PCC diz logo na primeira página que a obra literária Cobras e Lagartos era pura mentira e sem credibilidade. A pior parte viria nas páginas seguintes. Era o preso quem fazia acusações caluniosas contra mim.
Ele escreveu à caneta na representação que eu era jornalista sem credibilidade e que por longos anos fui associado ao tráfico de armas junto ao Primeiro Comando da Capital. Afirmou ainda que eu era informante e cúmplice de diversos crimes praticados pelo PCC. E também insinuou que eu sugeri um ataque a bomba na sede da Secretaria Estadual da Administração Penitenciária, pois isso teria grande repercussão na mídia
Fiquei bastante chocado com as acusações. Minha reação não poderia ser outra diante de tantas mentiras. Prestei esclarecimentos ao Gaeco e anexei a ficha criminal do preso.
No documento constava que ele fora indiciado pela Polícia Civil pela tentativa de homicídio do agente penitenciário. Expliquei ao Gaeco que a informação divulgada no livro teve como base o indiciamento do preso. O Gaeco não levou o caso adiante.
Dois anos após as acusações feitas pelo preso eu continuava exercendo a função de repórter no JT, do Grupo Estado. Paralelamente escrevia Casadas com o Crime. Mantinha muito contato com advogados de presos do PCC, e com presas e mulheres de presos ligados à facção criminosa.
Por causa desses contatos caí em vários grampos telefônicos. Alguns advogados, muitos deles minhas fontes e personagens do novo livro, tiveram as ligações telefônicas interceptadas.
Em novembro de 2007, parentes de presos do PCC fizeram uma carreata até Brasília. O objetivo era tentar junto à CPI do Sistema Carcerário abrandar as regras do RDD e apresentar uma pauta de reivindicações feitas pela massa carcerária. Alguns advogados, minhas fontes fidedignas, estavam envolvidos com as mulheres dos presos na organização do evento. E sempre me ligavam para me contar sobre o andamento dos trabalhos e se tinha interesse na cobertura do evento.
Eles me convidaram a participar da carreata. Disseram que eu poderia ir numa Van com eles. Eu disse que havia conversado com minha chefia e que o jornal tinha interesse na cobertura do caso. E também informei que se fosse para Brasília seria em um carro de reportagem do JT, com logotipo do Grupo Estado.
Não cheguei a viajar. O JT decidiu que faria a cobertura em São Paulo. Fui com a repórter fotográfica Carol Guedes até a cidade de Sumaré, de onde partiu a carreata. Eram dezenas de ônibus. O comboio levava, em sua maioria, mulheres, mães e irmãs de presos.
As conversas por telefone entre advogados e mulheres de presos foram interceptadas e gravadas. Eu também caí no grampo. As autoridades do sistema prisional jamais admitiram, mas as suspeitas eram de que eu estaria ajudando a organizar o evento.
Uma das autoridades do alto escalão do governo de São Paulo, um secretário de Estado, chegou a me chamar de “sintonia da imprensa” do PCC. Quem me contou isso foi uma assessora dele. Quando soube disso, liguei para o advogado grampeado.
A autoridade soube que havia descoberto que estava sendo chamado de “sintonia de imprensa” do PCC. Assim que tive conhecimento disso, liguei propositalmente para o advogado grampeado. Como o telefone do advogado era monitorado, nossa conversa mais uma vez foi interceptada. A autoridade não demorou para ser informada que eu havia descoberto a expressão que ele usara contra mim. As autoridades também nunca vão admitir, mas mandaram me seguir para apurar se eu estava envolvido na organização da carreata. Flagrei um agente ocupando um carro prata nas imediações da minha casa. Durante dois dias, o agente ficou seguindo meus passos.
Muitos delegados, escrivães e investigadores da Polícia Civil e também praças e oficiais da Polícia Militar nutriam ódio por essa autoridade do alto escalão do governo estadual. Agentes penitenciários o detestavam. Um agente me disse que ela ocupava um importante cargo no governo, em 1993, quando o PCC foi criado no anexo de Taubaté, e acompanhou de perto o nascimento e o crescimento da facção criminosa.
Segundo o agente, ela nada fez para impedir esse avanço. Essa autoridade que me chamava de “sintonia da imprensa” tentava de todas as formas punir policiais que conversavam comigo. E me proibiu de entrar no prédio da assessoria de imprensa de uma secretaria de Estado.
Certa vez fiz uma reportagem mostrando que não era incomum a prática de furtos no Palácio dos Bandeirantes. Como na sede do governo paulista tem uma Casa Militar, liguei para a PM para ouvir o outro lado da história, como é praxe, obrigação de qualquer repórter. Um oficial me atendeu. E para conferir se havia mesmo furtos no Palácio dos Bandeirantes, o policial militar teve de consultar o Infocrim, uma importante ferramenta de pesquisa contendo informações e estatísticas criminais, cujo acesso é restrito às Polícias.
Para abrir essa ferramenta, o policial precisa ter uma senha. O Dipol (Departamento de inteligência da Polícia Civil) consegue rastrear com precisão a data e o horário que a pessoa teve acesso ao Infocrim. A reportagem sobre os furtos no Palácio dos Bandeirantes saiu no dia seguinte à consulta feita pelo oficial para que pudesse me dar uma resposta à minha apuração.
A autoridade do alto escalão do governo estadual não gostou da matéria. Afinal, ela mostrava que nem a sede do governo paulista estava livre de ladrões.
O Dipol descobriu quem tinha acessado o Infocrim. O oficial da Polícia Militar que me atendeu foi chamado ao gabinete da autoridade do alto escalão do governo paulista. Foi apontado como suspeito de ter me passado os dados dos furtos para a reportagem.
Ao entrar na sala da autoridade, o oficial teve de engolir a seco a seguinte frase:
— Ah, então é você? Só queria ver a sua cara. Pode ir embora. Dispensado.
Em seguida, a autoridade mandou a Polícia Militar abrir um processo administrativo contra o oficial, para saber se ele havia cometido alguma irregularidade, alguma falta disciplinar. Porém, nada foi provado. Eu fui depor a seu favor.
O oficial apenas consultou o Infocrim para se certificar se havia mesmo furto no Palácio dos Bandeirantes. Não foi ele que me passou os dados. Minha fonte mesmo, que ainda atua na área da Segurança Pública, até hoje não foi identificada.
Já a autoridade que quis punir o oficial da PM e que me chamava de “sintonia da imprensa” se deu mal. Foi flagrada em local público entregando documentos para um jornalista, para que fosse publicada reportagem de seu interesse. A matéria que ela queria que fosse feita saiu no dia seguinte ao encontro com o repórter.
Delegados desafetos dessa autoridade chegaram a comentar:
— Essa raposa velha sim é a verdadeira “sintonia da imprensa”. Mantém encontros às escondidas com jornalistas para emplacar matérias de seu interesse.
Essa autoridade cansou de procurar repórteres da Folha e do Estadão com esse objetivo: divulgar matérias de seu interesse, mas sem aparecer nas reportagens. E por um motivo óbvio: não poderia de maneira alguma aparecer como fonte do jornalista ao qual havia procurado. Porém, ela gostava de punir outras fontes. O discurso era um e a prática outra.
Todas as ameaças, calúnias, perseguições e processos sofridos no curso de minha carreira jornalística me deixaram sequelas. Uma delas é a gastrite, doença enfrentada por parte da categoria. A minha gastrite tornou-se crônica durante uma audiência judicial na área cível, no Fórum João Mendes. Meu estômago doeu muito naquele dia. Quase rolei no chão de tanta cólica, assim que uma juíza me advertiu:
— Você vai sair daqui algemado. Está pensando que tem um narizinho de palhaço aqui, disse a magistrada apontando para o próprio nariz.
Eu e o jornal Diário Popular éramos réus em uma ação movida por um policial citado na reportagem como suspeito de corrupção. A juíza queria saber de qualquer jeito quem eram as minhas fontes. Respondi que não poderia revelar as fontes por direito constitucional. A magistrada então ameaçou me prender. Após a intervenção do advogado do jornal, a juíza mudou o tom e foi mais moderada.
Uma das minhas fontes, a principal delas, havia sido metralhada. Eu ainda a levei até a Assembleia Legislativa, onde ela foi pedir para ser incluída em um programa de proteção à testemunha.
O assassinato dessa testemunha com certeza constava nos autos do processo. Mesmo assim a juíza queria que eu dissesse quem eram minhas fontes. Caso contrário mandaria me algemar e me prender.
Também fui ameaçado de prisão logo após ter feito outra reportagem no Diário Popular. Meu chefe Odilon havia me passado uma pauta. Porém, eu não gostei dela e tratei de cavar outra.
Fui à luta. Na avenida Tiradentes, perto do Batalhão da Rota, tive uma ideia. Foi justamente quando estava em frente a uma loja que vende fardas. Naquela época havia muitos assaltos a bancos e, em alguns casos, os ladrões usavam fardamento da PM. Entrei na loja e comprei uma camisa e uma calça da Polícia Militar. Meu objetivo era mostrar a facilidade na compra desse fardamento “oficial”. Só quem pode fazer essa compra são os PMs. E mesmo assim apresentando o RE, Registro Estatístico, documento que comprova a identidade policial.
Eu estava muito barbudo e cabeludo na época. A vendedora, ao me olhar, teve a certeza de que eu não era policial. E me vendeu as roupas sem pedir qualquer tipo de documentação. Aleguei que era para uma peça de teatro.
Do lado de fora da loja estava o repórter fotográfico Nário Barbosa. Ele me fotografou realizando as compras. Saí da loja, mas voltei instantes depois. Desta vez comprei um cinto e um quepe. Havia assim adquirido o fardamento completo. Tudo com nota fiscal.
Voltei para a redação. A chefia gostou da pauta. E decidiu publicar a reportagem com destaque, mostrando a fragilidade na venda do fardamento policial nas lojas de São Paulo.
Já era final da noite. O jornal não havia rodado ainda e, por orientação da minha chefia, fui ao distrito da área da loja onde havia comprado o fardamento, no caso o 2º DP (Bom Retiro), para entregar as roupas e fazer um boletim de preservação de direitos.
Expliquei para a delegada de plantão que o objetivo da reportagem era mostrar como era fácil comprar um fardamento da PM. A delegada mandou eu sentar em uma cadeira. Ela fez várias ligações. Queria saber se eu tinha usado a farda e saído às ruas simulando alguma blitz policial. Telefonou para o delegado-geral, procurador-geral de Justiça, corregedor da PM e comandante-geral da PM.
Em poucos minutos, a delegacia estava cercada por homens da Corregedoria da PM. Os policiais olharam a farda e atestaram que ela era verdadeira. A delegada queria de todo o jeito saber se eu havia cometido algum crime com a roupa. Parecia estar louca para me prender.
Tomei uma canseira, um verdadeiro chá de banco, na delegacia. Horas depois fui liberado. Os policiais chegaram à conclusão de que eu não havia feito nada de errado, não tinha cometido nenhum ilícito. A farda e as notas fiscais das compras foram apreendidas.
Pela manhã, o assunto policial do dia era a reportagem do Dipo sobre a compra do fardamento. A matéria teve grande repercussão na mídia e também nos meios policiais.
Passados alguns meses fui chamado ao Fórum Criminal para depor. Na época, o fórum ficava no viaduto Dona Paulina, no centro de São Paulo. O dono da loja onde comprei o fardamento havia me processado criminalmente. Durante a audiência, o promotor ouviu primeiro a vendedora da loja. Ela disse que eu havia me apresentado como policial militar e que por isso me vendeu as roupas da PM. Em seguida, o promotor passou a me interrogar. Ele perguntou se eu tinha me passado por policial e se a vendedora havia solicitado algum documento meu. Respondi a ele que no dia da compra, minha aparência era a mesma daquele dia em que era ouvido na audiência e também que não me foi pedido nenhum documento.
Eu continuava bem barbudo e cabeludo. O promotor teve a convicção de que eu falava a verdade. No final, ele pediu ao juiz do caso a minha absolvição e fez a seguinte alegação:
— Parabéns pela reportagem. O senhor prestou um grande serviço à sociedade.
Saí bem aliviado do fórum criminal. Mas por uns instantes me lembrei dos momentos em que passei no 2º Distrito Policial, das ameaças feitas pela delegada de plantão e da pressão exercida pelos PMs da Corregedoria. Naquela noite, meu estômago voltou a doer. Vida de repórter é assim mesmo. Ossos do ofício.
