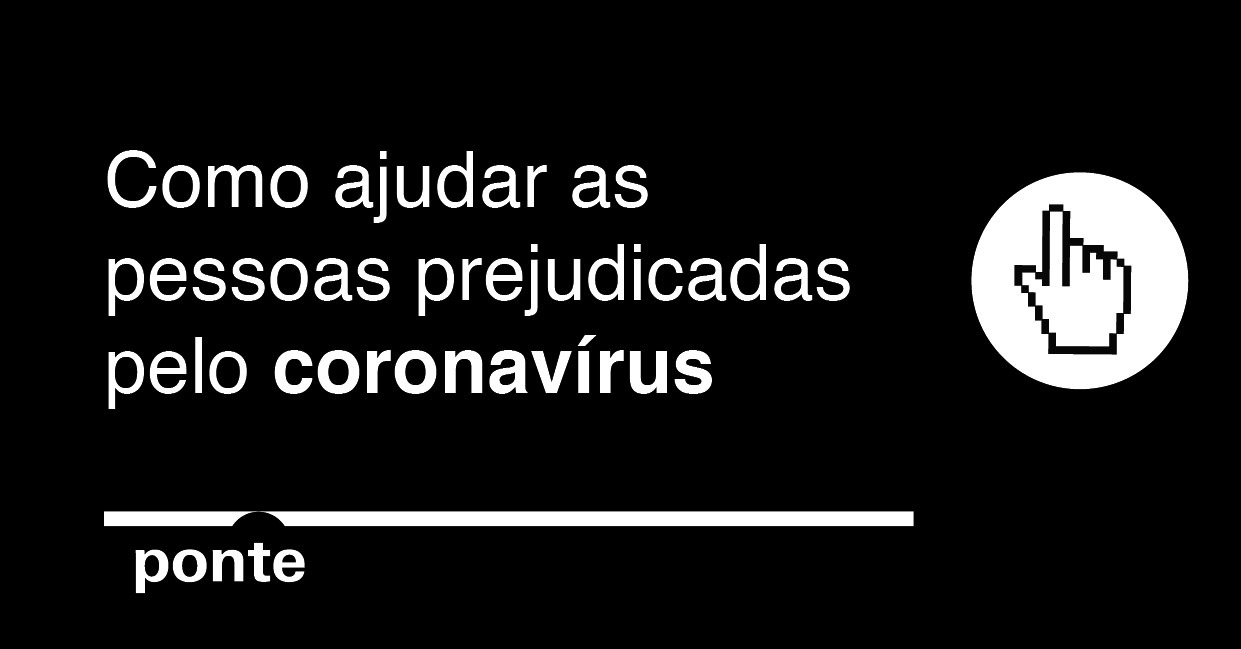Produtora cultural Marcia Marci criou espaço que mobiliza jovens moradores do Grajaú e de outros bairros para debater gênero, sexualidade e a ideia de ocupar a cidade

O sonho de poder ocupar a cidade de dia, ocupar seu bairro em um momento que não fosse apenas de noite, moveu Marcia Marci, 30, produtora cultural, jornalista e moradora do Jardim Icaraí, bairro do distrito do Grajaú, na zona sul de São Paulo, a materialização do Sarau Travas da Sul, uma iniciativa que segundo ela sempre foi seu sonho. “Para mim é materialização de um sonho, criar um cenário que é possível de se habitar, que seja menos perigoso, que a gente possa falar sem ter receio ou medo de existir”.
Ela explica que o anoitecer na periferia possui significados simbólicos quando se é travesti na quebrada. “Muitas vezes eu me sinto segura só à noite, só quero sair de noite, então o sarau vem para tirar a gente da noite, dos guetos, e ocupar a cidade enquanto direito sendo uma trava, uma bicha, um gay, uma sapatão, sendo o que quisermos ser”.
Neste universo, Marci surge protagonizando a criação de encontros literários, como a realização do Sarau Travas da Sul, iniciativa que nasce para ser um espaço para preservar e valorizar a liberdade de expressão e acolhimento da comunidade LGBTQI+, através da difusão de trocas de afeto, vivências políticas e construção de senso crítico.
“Eu quero que as pessoas venham aqui e mostrem seus trabalhos, sua arte e também trazer essas pessoas para serem produtoras culturais”, argumenta, enfatizando que esses espaços coletivos como o Sarau Travas da Sul e o coletivo Coiote lhe ensinaram muito sobre brigas, respeito, cultivar os afetos e principalmente a celebrar a vida, de acordo com o que ela se identifica.

O trabalho da produtora cultural vai além do movimento cultural, político e afetivo com a comunidade LGBTQI+. Ela também está em busca de criar outros imaginários de vida, a partir da importância de celebrar a identidade nesses espaços coletivos.
“Esse processo todo de trabalhar com a cultura, entender a articulação de território, entender a comunidade do sexo dissidente acaba chegando ao sarau, nesse lugar de diversas linguagens e narrativas que são produzidas pela comunidade de sexo dissidente no geral”, conta ela.
Marci lembra que o seu passado foi marcado por muitos atritos com a família e com o bairro onde ela mora, mas que hoje, a cultura lhe possibilita outras leituras de mundo. “Tinha uma relação muito difícil com a minha família, com meu território e comigo mesma, mas agora consigo viver e criar outras possibilidades, e sempre dialogando com a quebrada a questão da travestilidade, como essas discussões acontecem nas periferias, como é entender que a travesti não é trans, mas é uma mulher e também não é cisgênera”.
Território e identidade travesti
Ao entender o contexto de ser travesti na quebrada, Marci usa várias linguagens e narrativas que atravessam a sua existência, para distribuir pelo Grajaú e pelas periferias de São Paulo suas inquietações, com sua escrita e sua fala, a fim de alcançar outras pessoas, pautada pela criação de outras perspectivas sobre ser LGBTQI+ nas bordas da cidade.
Ela também questiona o termo ‘trans’ e devido à reprodução de narrativas, a produtora cultural ressalta que há uma necessidade de compartilhar conhecimento de forma coletiva no território e traduzir alguns conceitos ainda pouco difundidos na quebrada. “Como as pessoas falam essas narrativas nas periferias? Aprendi tudo isso e tento passar. Hoje eu sou uma mulher travesti no Grajaú e me sinto muito mais segura aqui e nas quebradas de São Paulo do que no centro da cidade”.
Marci explica que ser travesti não é ser trans. Segundo ela, isso abarca transgêneridades, pois trans é uma palavra que vem da Europa, desse sistema médico e jurídico para normatizar, falar o que é, e inclusive como tratar isso. “Eu me reconheço como travesti, me sinto bem como travesti, e me sinto bem como travesti no Grajaú”.
Para a produtora cultural, o direito à cidade e principalmente o direito ao território é algo distante na vida de muitos moradores da periferia que vive a rotina de correr do trabalho pra casa, e muitas vezes do trabalho para o lugar que estuda e só depois para casa. Ela acredita que essa rotina atrasou a construção de sua identidade e raízes, a partir do convívio nas periferias do Grajaú.
“Com uns dezoito ou vinte, comecei a estudar jornalismo e logo consegui um estágio na área e eu ficava o dia inteiro fora. Nesta época comecei a estudar gênero, e eu me entendia enquanto homem gay. Minha sexualidade vem mais tarde e a minha identidade eu escondi de mim mesma por muito tempo”, relembra.
A articuladora cultural conta que começou a viajar pelo Brasil com o coletivo Coiote, fazendo atividades de literatura libertária, lendo textos e causando discussões sobre gênero, feminismo e educação e nesse processo ela consegue se desprender do padrão do gênero masculino e se reconhecer como Marci, uma mulher travesti.
“Comecei a viajar com o pessoal do Coletivo Coiote, trabalhando com a leitura e discussão de textos libertários, fazendo fanzine e tudo. Aí nesse período foi quando me percebi saindo do padrão desse gênero, quando eu usei saia, quando eu me questionei enquanto homem”, afirma.
Este processo trouxe várias memórias de sua infância quando ela já sentia que não queria ser o menino que todos enxergavam nela. “Eu me lembrei de quando eu ganhei cueca no meu aniversário de criança. Eu chorei muito, muito, muito, e as pessoas preocupadas, perguntando por que eu tava chorando e eu dizendo que queria ganhar tudo menos uma cueca”.
A partir do momento que se abandona essa identidade masculina, ela começa a se ver como uma mulher travesti e não uma pessoa trans, relatando que trans é uma palavra trazida da Europa, usada para normalizar os corpos. “É importante deixar claro que não me reconheço como uma mulher trans, mas sim como travesti, porque existe um apagamento da identidade travesti, assim como as ‘Muxes’ no México são identidades não cisgêneras. As travestis são identidades não cisgênera, então quando a palavra trans vem é pra colonizar um corpo não cisgênero”, conclui.
Reportagem publicada originalmente pelo Desenrola e Não Me Enrola