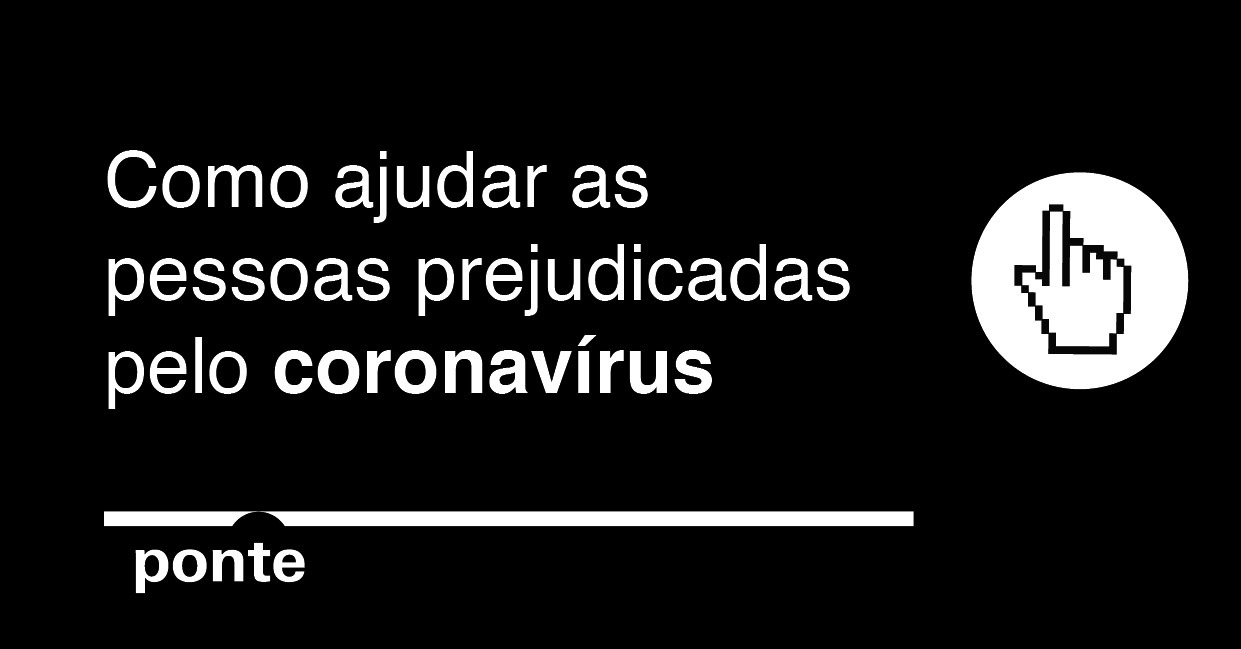A disputa pela memória patrimonial reflete as estruturas sociais e é uma causa essencial para as lutas antirracistas e indígenas

A construção do que entendemos como patrimônio histórico é um movimento ativo, consciente, fruto da vontade humana de preservar e materializar o presente no futuro, de evocar uma memória para dar a ela significado e para perpetuá-la. O valor de um patrimônio é dado pelas relações sociais e simbólicas que giram em torno dele, ou seja, existe aquilo que uma sociedade entende que deve preservar, que tem um motivo para preservar, e isso consiste em escolhas.
Como parte do patrimônio histórico, o monumento, derivado da palavra monere que em latim significa “recordar/advertir/trazer à lembrança”, é uma expressão de homenagem ou eternização de acontecimentos históricos. Existem monumentos que são construções realizadas no passado com algum outro propósito, por exemplo, a Grande Muralha da China, mas que só posteriormente foram reconhecidas por seu valor histórico. E existem os monumentos construídos com a intenção de exaltar um acontecimento ou alguém, que é o caso, por exemplo, das estátuas.
As estátuas, enquanto monumento, são, portanto, uma ferramenta de preservação de valores e de identidade de determinada sociedade. O que torna um monumento ainda mais uma construção complexa é a relação que este tem com a afetividade e a sensação de pertencimento. O monumento também é uma experiência emocional, ou seja, ele também produz a autoestima de um grupo, porque aciona a recordação de um passado “histórico”, ou seja, “importante”, que o indivíduo se sente parte. No oposto disso, ele aciona também uma experiência cruel e dolorida do passado para determinados grupos. Isso nos diz que o que se quer preservar do passado é uma escolha do presente. E quem faz essa escolha?
A partir desse ponto, podemos pensar que monumentos também são disputas de narrativas históricas. A estátua de Borba Gato, por exemplo, é uma homenagem ao “corajoso” bandeirante que desbravou o interior da colônia e foi um dos responsáveis pela extensão territorial do Brasil. Ele é o mesmo que escravizou e promoveu um genocídio de indígenas em suas excursões. A questão é: qual grupo se favorece e se sente afetivamente ligado a essa memória, e qual grupo enxerga e sente na pele, através dela, os séculos de exploração e genocídio que seu próprio povo sofreu.
Leia também: A branquitude no tapete vermelho
Nos últimos dias, nas redes sociais, muito se discutiu sobre a derrubada de monumentos tendo como estopim o caso de Bristol, na Inglaterra, onde um grupo de manifestantes do movimento Black Lives Matter derrubou e jogou no rio a estátua de Edward Colston, sócio da Royal African Company, uma das maiores instituições de tráfico de escravos do século 17. Também na Inglaterra, a cidade de Poole vai remover a estátua de Robert Baden-Powell, fundador do Movimento Escoteiro, oficial de guerra pelos britânicos em seus domínios na África, e acusado de racismo, homofobia e apoio ao nazismo.
Na Bélgica, a prefeitura da Antuérpia retirou a estátua do rei Leopoldo II, responsável por um holocausto que matou mais de 10 milhões de congoleses durante a colonização belga no Congo. Por outro lado, na África do Sul, manifestantes brancos se acorrentaram a estátuas de líderes do período colonial com medo de que fossem derrubadas. São exemplos e comprovações materiais de que a disputa pela memória patrimonial reflete as estruturas sociais e é uma causa essencial para as lutas antirracistas e indígenas. A manutenção de um determinado patrimônio reflete também a identidade de nação que um país reivindica no presente.
Por outro lado, quase não se encontra uma senzala preservada nas antigas fazendas no Brasil. Nunca houve interesse do Estado em mantê-las como espaços simbólicos e críticos à escravidão. Enquanto existem espalhadas pelo país centenas de marcos simbólicos de elogio e perpetuação da escravidão através dos bustos de heróis escravistas. Já conheci uma ex-fazenda escravista, do interior do Rio de Janeiro, que transformou a antiga senzala em uma sala de estar. Vários restaurantes, bares e hotéis por todo Brasil usam indevidamente o nome “Senzala”, o positivando e banalizando.
A diferença e o porquê de preservar as antigas senzalas também faz parte da disputa de memória. Nesse caso, o Estado e a branquitude desejaram, desde a abolição, o apagamento da memória da escravidão, a “vergonha nacional”, enquanto perpetuaram as mesmas estruturas escravocratas por outros caminhos, especialmente o do mito da democracia racial que se fortalece enquanto se apagam as provas materiais do passado escravista (provas materiais não são homenagens).
Assim como Auschwitz, campo de concentração nazista na Polônia que foi preservado e tem a função de manter viva e evitar o apagamento da memória do que não se deve jamais acontecer, preservar as senzalas também tem essa função, além de possibilitar necessárias pesquisas históricas e arqueológicas da história da escravidão. É marcar aquele espaço como memória crítica da escravidão.
Eis a grande diferença, não se trata de uma homenagem, mas de evitar justamente que essa memória se apague e prevaleça apenas a história dos vencedores, daqueles que negam serem herdeiros e possuírem nas veias o sangue de escravizados do maior território escravista das Américas. Daqueles que viraram monumentos nas praças.
Como historiadora, defendo a preservação dos patrimônios históricos, mas não de uma forma acrítica. Em 2019, a escola de samba Mangueira, com enredo que falava sobre a “história que a história não conta”, em um dos carros reproduziu o Monumento às Bandeiras pintado de vermelho-sangue, pichado com “assassinos”, “genocidas”. Essa intervenção já foi feita de fato, algumas vezes, no monumento verdadeiro, e sempre apagada e considerada crime de vandalismo pelo estado de São Paulo.
É o que se chama de contramonumento, quando uma intervenção pretende marcar a história dos oprimidos por trás dos “heróis” monumentalizados. Há também a defesa de outras preservações de patrimônio que devem existir para que sejam ressignificadas, para que sejam didáticas. Colocada aqui a diferença entre os patrimônios e monumentos, ainda como historiadora eu considero legítima e necessária a derrubada de símbolos que homenageiam, que exaltam e que, através de estátuas, preservam apenas a memória dos vencedores enquanto apagam as narrativas dos oprimidos.
Essas figuras já estão documentadas em livros, imagens, museus, não vão se perder. Preservá-las como heróis no espaço público é uma reprodução cotidiana da mesma violência que os ergueu. A História se faz no presente e derrubar tais monumentos é tirá-la das mãos do opressor e recontá-la como deve ser.
Larissa Ibúmi Moreira é historiadora, escritora e jornalista em formação. Também é mestranda em História Social da Diáspora Centro-africana. É autora do “Vozes transcendentes: Os novos gêneros na música brasileira” (2018).