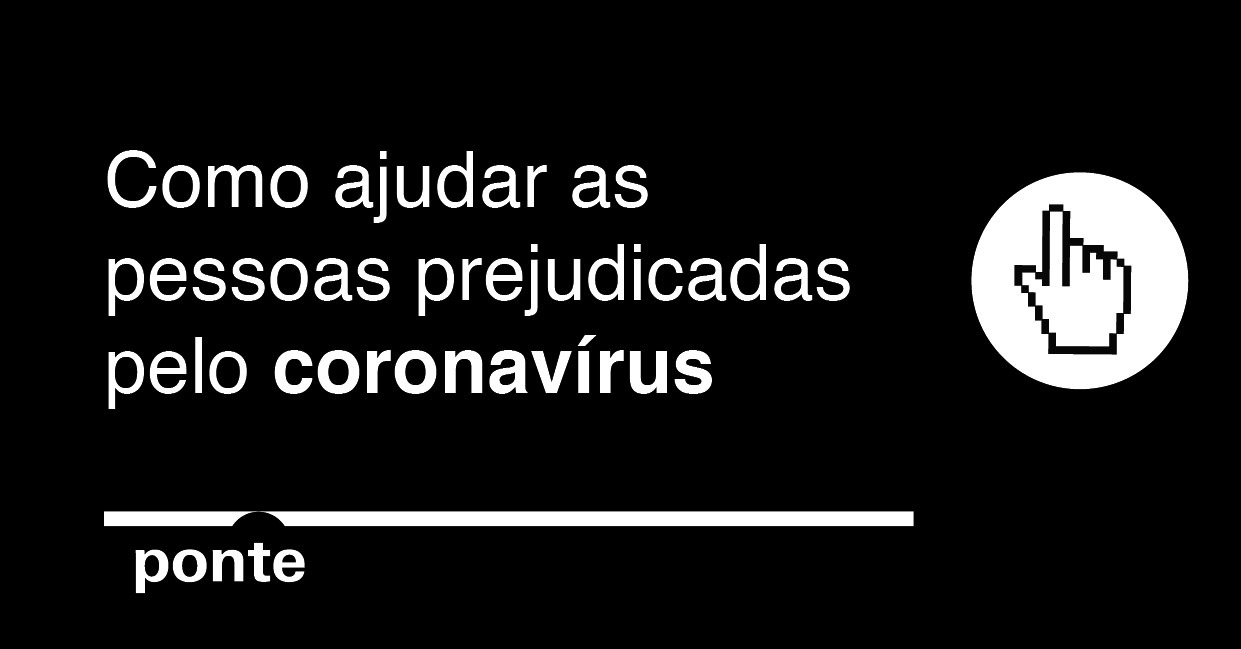Enquanto estruturas racistas existirem, a figura alusiva à escravidão vai trocar de nome, de cargo ou de arma, mas vai continuar existindo

Negros foram utilizados como mercadoria de escravagistas por séculos, pois os colonizadores europeus aperfeiçoaram uma das suas maiores invenções tecnológicas: o racismo. Ele não nasceu com esse nome, a ideia de raças ainda era obtusa perto do que foi consolidado com a ciência. Era uma “coisificação”, como disse Martin Luther King em um vídeo memorável: “Não há como coisificar algo, sem despersonificar”, ele se refere a tirar o status de humano de todos os africanos e seus descendentes.
Longe de sua cultura, de sua própria língua e sitiados em território desconhecido, aqueles corpos pretos estavam preparados para ganhar novos revestimentos sociais, construídos para servir aos interesses de todas as elites brancas da época. Eu não consegui deixar de pensar nessa situação ao ouvir a explicação primorosa de Silvio Almeida, em sua participação no último programa Roda Viva:
Existe todo no imaginário social, todo um lugar já produzido para o lugar do corpo negro, existe toda uma série de funcionamentos da vida social que sempre coloca o negro nessa posição de violência.
Silvio Almeida, filósofo, professor e jurista
Essa expressão, posição de violência, é sempre conectada com o genocídio negro brasileiro, como a morte de um jovem a cada 23 minutos, a pobreza que assola a maior parte da comunidade negra, a falta de educação, saneamento básico ou de acesso a melhores condições econômicas.
Todavia, quero ressaltar hoje outra posição, identificada mais como quem exerce a violência contra outros negros, uma figura outrora chamada de capitão do mato, eternizada por uma pintura de Johann Moritz Rugendas em 1823. Nela, dois homens negros compartilham a tela: um está sobre um cavalo com roupas e armas e o outro está amarrado, peito nu e com um olhar desesperançoso. Os dois são serviçais, mas um vai trabalhar até os 19 ou 25 anos (a expectativa de vida na época, segundo alguns historiadores), o outro acredita que é diferente, que goza de privilégios, junta uma certa quantia de dinheiro, mas nada é capaz de oferecer o que ele persegue, um espaço verdadeiro de reconhecimento na sociedade. O capitão do mato exerce uma função de violência extrema, tão desumana que só cabia mesmo a outro ser desprovido da humanidade reservada para os brancos.
Leia também: Por que é racismo dizer que negros são mais criminosos do que brancos
Quando nos afastamos das primeiras emoções em torno dessa existência agressiva, encontramos a realidade ditada por José Correia Leite: “o negro é sempre o negro. Ele terá sempre o processo de discriminação”. O caçador de recompensas traidor do povo negro tem dois processos, pois também conta com o repúdio dos seus iguais, além do racismo que recai sobre sua figura. Renegado por dois mundos, a única forma de manter sua posição é se apegar às promessas de ascensão que lhe ofereceram, um caminho sem volta para a bestialidade.
Apesar de encontrarmos figuras chamadas de Pai Tomás na história da escravidão norte-americana, o capitão do mato brasileiro carregou uma característica própria, que mostra uma das grandes diferenças da dinâmica racial entre nossos países. Aqui, o mercenário negro era um certo mandatário da violência, enquanto lá, era mais comum os chamados patrollers, patrulheiros brancos que surgiram na Carolina do Sul em 1704 e se espalharam pelas treze colônias dos EUA. Estes cumpriam o papel de perseguição e castigo aos escravizados que fugiam. Muitos se juntaram aos exércitos dos Confederados e posteriormente organizaram os primeiros grupos da Ku Klux Klan.
A conjuntura brasileira adicionou a esse processo uma intrincada hierarquia racial.
Em uma sociedade que odiava preto, qualquer chance de não ser identificado como um parecia benéfico. A hierarquização da raça negra contribuiu muito para isso. Não temos tantas palavras para definir as variações de brancos como temos para negros: crioulos, mulatos, morenos, cabras, pardos, mestiços, pretos…
Mesmo em uma sociedade que dizia ter abolido a escravidão, a dinâmica do capitão do mato sobreviveu de forma institucionalizada. O historiador Luiz Felipe de Alencastro tinha percebido que para os identificados como mulatos foi permitido mais facilmente o ingresso em tropas militares auxiliares. Jessé Souza discorre, também, sobre o fato em sua obra, “A Elite do atraso”.
Enquanto esse tipo de serviço de controle e guarda era exercido nos EUA exclusivamente por brancos, no Brasil havia predomínio de mestiços. Nota-se, desde aí a ambiguidade entre possibilidade de ascensão social para os mestiços no familismo patriarcal em troca de identificação com os valores e interesses do opressor.
Luiz Felipe de Alencastro, historiador
A distância temporal apagou alguns laços do imaginário com a realidade colonial. Não cabe utilizar de forma generalizada a figura de um capitão do mato com qualquer pessoa negra que ainda esteja em um serviço de guarda ou polícia, pois ao contrário da figura originária eles não estão ali com intenções declaradas de perseguir outros pretos.
Leia também: Beth Beli: ‘O racista não faz ideia o tipo de marca que deixa na gente’
Eu prefiro considerar essa figura como uma reprodução arquetípica da sociedade. Ela joga indivíduos em uma zona de conflito, com poder de exercer a violência para antagonizar com as pessoas que já são oprimidas por toda estrutura racista do país. Lembro de uma entrevista do João Cândido ao MIS, líder da revolta das chibatas em 1968.
Pertenci à Marinha de 5 de dezembro de 1895 a 30 de dezembro de 1912. Eu entrei na Marinha com 14 anos e entrei bisonho. Entrei bisonho, toda luz que me iluminou, que me ilumina, graças a Deus, que é pouca, foi adquirida, posso dizer, na Marinha.
João Cândido, líder da revolta das chibatas
João sofreu tentativa de assassinato, sobreviveu milagrosamente em uma cela onde seus amigos padeceram e foi abandonado à própria sorte após se revoltar contra o castigo que pretos recebiam na Marinha. O que a instituição queria era que ele considerasse normal as chibatadas em negros, se ele aceitasse e fosse capaz de reproduzir o castigo com seus irmãos, quem sabe, poderia subir de patente. Essa dinâmica que desumaniza os negros dentro das instituições deve acabar. De acordo com dados do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 51,7% dos 726 policiais mortos entre 2017 e 2018 eram negros, um número assustador para uma realidade onde só 37% de policiais se declaram assim.
Agora, estamos observando um fenômeno bem peculiar. Após décadas de conquistas dos movimentos negros, com mais indivíduos pretos ocupando espaços de poder na política, o arquétipo do capitão do mato se remodela para exercer uma violência diferente da física, mas tão danosa quanto. Você pode identificar algumas das personalidades negando a existência do racismo e defendendo visões europeias de cultura, um perfil já explicado por Neusa Santos no livro “Tornar-se Negro”.
Não possuindo uma outra concepção positiva de si mesmo, o negro viu-se obrigado a tomar o branco como modelo de identidade, ao estruturar e levar a cabo a estratégia de ascensão social.
Neusa Santos
Em todos os casos estamos falando de pessoas que saltaram de trás das cortinas para cargos influentes apenas pela sua capacidade de ofender e contrapor os movimentos negros. Indivíduos que não têm nenhuma contribuição significativa para a sociedade e que aceitaram deliberadamente a posição de subalternos. Enquanto as estruturas racistas existirem e impactarem nossa sociedade, a figura do capitão do mato vai trocar de nome, de cargo ou de arma, mas vai continuar existindo.
Ale Santos é escritor de Rastros de Resistência, histórias de luta e liberdade do povo negro
(*) Diferente de outras reportagens publicados pela Ponte Jornalismo, o conteúdo dessa matéria não está sob licença Creative Commons CC BY-ND e não pode ser reproduzido sem autorização de seus autores