Keila, Anyky, Clara, Brishell, Collette, Francesca e Gabriela são mulheres trans e têm muito mais dificuldade de acesso a uma moradia decente. Elas conhecem desde cedo as diferentes faces da violência e da discriminação, e estão conscientes do risco que suas vidas correm todos os dias, dada a possibilidade de serem vítimas de um crime de ódio. Radiografia de um grupo que em muitos países permanece invisível às estatísticas e leis
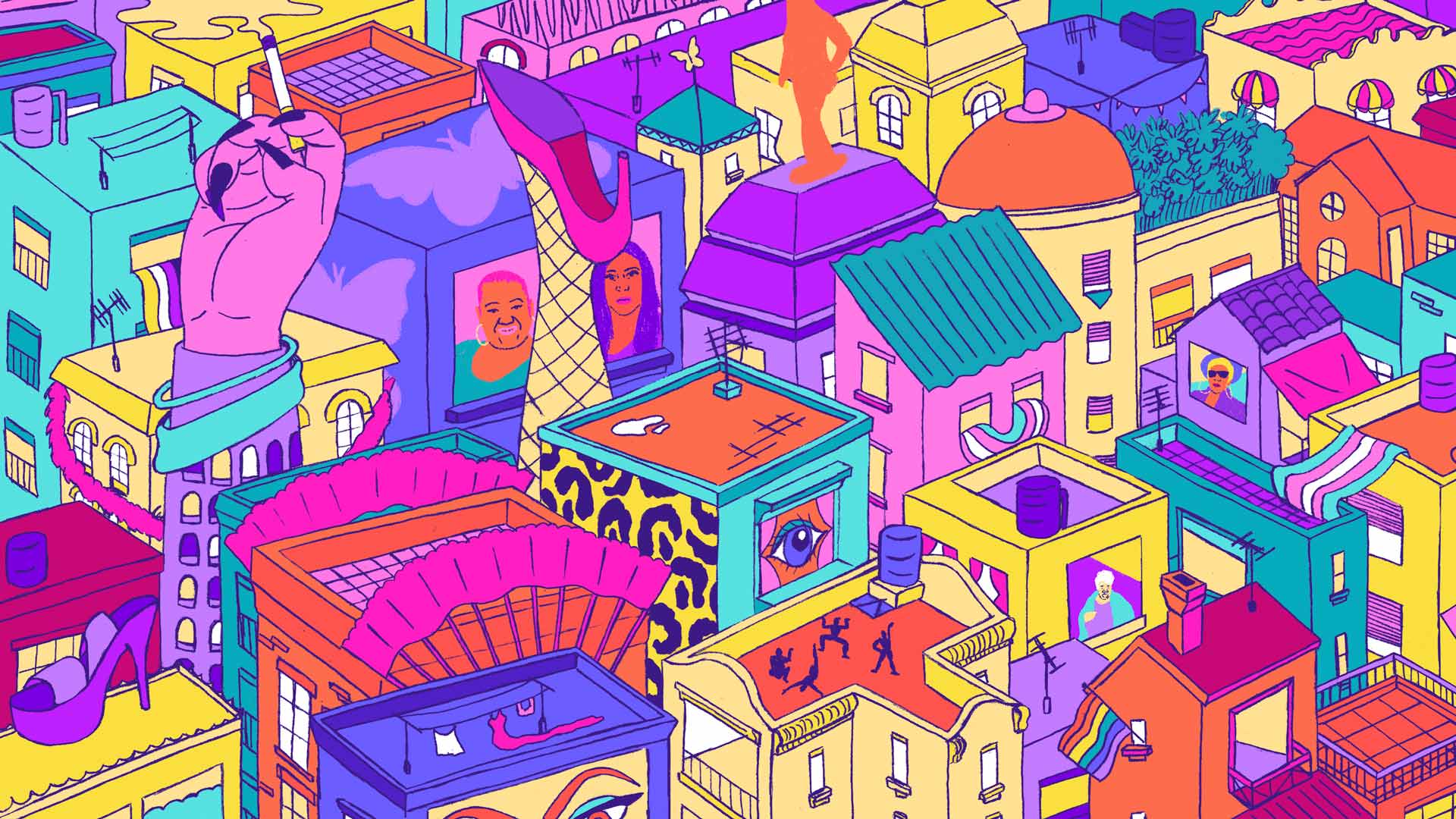
Suas famílias as expulsaram de casa muito cedo. Elas passaram um tempo nas ruas, viveram em pensões e em quartos alugados. Todas tiveram problemas em conseguir trabalho. São mulheres trans que vivem em diferentes países da América Latina, mas suas histórias são semelhantes. Ao longo de suas vidas, Keila, Anyky, Clara, Brishell, Collette, Francesca e Gabriela sofreram e ainda sofrem todas as formas possíveis de violência e discriminação. A semelhança não para por aí: todas elas lutaram e seguem lutando por seus direitos.
Contra todo prognóstico, elas superaram os 35 anos, expectativa média de vida das pessoas trans e travestis na América Latina. A mesma idade a que chegavam os europeus durante da Idade Média, quando ainda não havia antibióticos, vacinas e grande parte da tecnologia que temos hoje em dia.
– Qualquer travesti que supere os 35 anos está se vingando do sistema – afirma Keila Simpson, brasileira de 55 anos, presidente da Antra (Associação Nacional de Transsexuais e Travestis).
A partir dessa idade, elas se transformam em sobreviventes.
***
Aos 13 anos, Keila deixou a casa de pau a pique em que vivia com sua família.
– Eu fui me arrumando da forma que dava, às vezes em quartos insalubres – conta.
A grande maioria das pessoas trans vive em quartos alugados, pensões ou em casas coletivas. Depois de passar parte de sua vida em quartos sem móveis, paredes descascadas ou sem boa estrutura, Keila alugou em 2003 o apartamento que vive atualmente e que chama de lar.
– Estou sozinha, mas aqui sim me sinto em casa.
Ainda que tenha um lugar seguro e saudável para viver, não se sente protegida. Todos os dias, milhares de pessoas trans na America Latina sofrem todo tipo de violência contra seus corpos. Segundo a ONG Transgender Europe, entre 2008 e 2020, 2.894 pessoas trans foram assassinadas.
– Nós, a população trans brasileira, vivemos com medo de que nos matem ou nos violem em qualquer lugar, somente e tão somente porque somos pessoas trans.
Apenas no ano passado, 175 pessoas trans foram assassinadas no Brasil. A grande maioria das vitimas eram jovens, as menores tinham 15 anos, negras e trabalhadoras sexuais, como mostra o Dossiê Anual de Assassinatos e Violência contra Travestis e Transexuais no Brasil da Antra.
– Sempre digo que sou uma sobrevivente. Fui vitima de três tiros: um no pé, outro no joelho e outro nas nádegas. Três disparos em três momentos diferentes da minha vida – relata Keila.
Mas não é só a violência física que mata. No Brasil, não existem politicas de inclusão para pessoas trans no sistema educacional nem no mercado de trabalho. Depois de muitos anos de luta, em 2018, o STF garantiu o direito ao nome social e retificação de documentos. Mas ainda, há um longo caminho a percorrer. Em São Paulo, uma de cada três pessoas trans ultrapassam os 36 anos.
Keila disse que seguir viva é uma meta diária. De acordo com ela, chegou aos 55 com a empáfia de olhar no cara de quem quer que seja e dizer: Me chamo Keila Simpson, sou mulher, me respeite, porque aqui está meu documento”.
– Meu desejo, meu objetivo na vida, é me tornar uma travesti centenária. Nossa vingança é ficar velhas.

Desde 1948, em sua Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ONU (Organização das Nações Unidas) reconhece que toda pessoa tem direito a uma moradia digna. Segundo os dados do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), em 2012, 59 milhões de pessoas viviam em casa precárias ou sem acesso a serviços básicos na América Latina.
Para as pessoas trans, o acesso a moradia é ainda mais difícil, quando não impossível. Ao longo de suas vidas são vítimas de diferentes tipos de violência estrutural como a falta de empregos formais e políticas sociais de inclusão, o que acaba por afastá-las do sonho da casa própria. Em muitos casos também têm sérias dificuldades para alugar já que não possuem garantias válidas ou se deparam com a negativa dos proprietários de alugar para pessoas trans.
– Vocês fazem festas, ficam bêbadas e trazem homens – a peruana Gabriela Mariño conta o que os donos de casas costumavam lhe dizer a cada vez que entrava em contato.
Gabriela cresceu em San Juan de Miraflores, Peru, na década de 50, na casa que sua mãe construiu em um terreno ocupado no bairro Cidade de Deus. Era uma casa pequena e simples – um quarto, uma pequena cozinha, um banheiro e um grande pátio onde brincava – mas era o suficiente para elas. Seus irmãos mais velhos já haviam deixado o seio familiar e apenas as duas moravam ali. Sendo apenas uma garota, acompanhava sua mãe a vender comida ou sacolas plásticas nos mercados.
– Quando estava com minha mãe, me sentia em casa. Ela formou um lar, praticamente. Eu sentia que o meu era com ela – diz Gabriela, 66 anos.
Os problemas começaram quando seus irmãos mais velhos voltaram a viver com elas e sua mãe repartiu o terreno para que os filhos tivessem onde morar.
– Eles já observavam minha orientação sexual, minha identidade e decidiram que, como não ia ter filhos ou um cônjuge, eu não precisaria de uma casa.
Os irmãos decidiram que ela teria apenas de um quarto e nada mais. Aos 21 anos, Gabriela os enfrentou e, ao final, conseguiu que a deixassem construir um lugar para si, onde viveu com sua mãe até a morte da matriarca no ano passado.

Collette Spinetti é professora de literatura, bailarina, ativista trans e ex-participante do Masterchef Celebridades do Uruguay. Ela tem 55 anos, cabelo loiro liso que cai suavemente e suavemente sobre seu rosto, olhos castanhos que são quase pretos, lábios finos e uma voz profunda e vibrante. Tem lembranças de uma infância feliz na casa de sua família com sua mãe, pai e três irmãs, em Paso de los Toros, no departamento de Tacuarembó. Era uma família sólida e unida.
– Como qualquer pai nascido nos anos 30, ele me dizia: os homens não choram, não usam saias, não brincam com meninas. Mas eu nunca o senti como repressão.
Collette se sente “histórica”. Afirma que, dentro do mundo trans, ela pertence a velhice trans e ainda se sente jovem e com muita energia. Em relação a outras pessoas trans da sua idade, sabe que é uma privilegiada: tem casa própria. Uma casa que não foi fácil de consegui e que ainda está pagando.
– Um alto percentual de pessoas trans saíram da escola muito cedo, portanto não têm formação, não tiveram a oportunidade de investir em sua vida. Hoje, estão em situação de pobreza, com muitos problemas de saúde derivados da automedicação de hormônios, as injeções de silicone e de uma vida de trabalho sexual ao relento, no frio, no calor ou com chuva. É uma situação muito triste e dolorosa.
Mesmo aqueles que está numa situação econômica melhor têm dificuldades: a maioria dos casos, ao não ter acesso a empregos formais, não conseguem obter financiamento.
Durante a pandemia, a situação se agravou. Muitas ficaram sem trabalho. Por falta de pagamento de aluguel, aumentaram os despejos. Algumas, conta Collette, se uniram e criaram pequenas comunidades. Outras tiveram que voltar a casa de suas famílias, as mesmas que as rejeitaram quando jovens.
– Isso traz como consequência uma quantidade de micro violências, tanto em nível intrafamiliar como social em seus povoados e cidades de origem.
O Uruguai tem um marco legal avançado em comparação a outros países da America Latina. A Lei Integral de Pessoas Trans (Lei nº 19684), aprovada em 2018, garante os direitos básicos a esta comunidade. Além disso, faz com que o Uruguai seja – junto com México – um dos poucos países da região cujo Estado colhe informações sobre a população trans.
No censo Transforma 2016, 853 pessoas se identificaram como trans. A idade média em que abandonam suas casas é de 18 anos, por conta de maus tratos e discriminação das próprias famílias. Segundo o censo, o primeiro desde a aprovação da Lei nº 19684, a maioria tem dificuldades para conseguir trabalho e moradia. A principal alternativa é o trabalho sexual. Apenas 15,9% possui casa própria. 17,5% aluga uma casa ou apartamento e 35% vive com suas famílias.
A Pesquisa T, feita em 2017 no Chile, mostra que apenas 13% dessa população supera os 34 anos. Desde 2019, o país possui uma Lei de Identidade de Gênero que garante o “reconhecimento e proteção da identidade e expressão de gênero”. No entanto, esta legislação não garante o acesso integral aos direitos básicos. Segundo o informe Población Trans de Chile ante la crisis provocada por el covid-19 (População Trans do Chile diante da crise provocada pela Covid-19), a maioria tem dificuldades para conseguir trabalho.
No México, a Enadis (Pesquisa Nacional sobre Discriminação) de 2017 e a Endosig (Pesquisa sobre Discriminação por Motivo de Orientação Sexual e Identidade de Gênero) de 2018 apontam que 3,3% dos entrevistados são mulheres trans e que 46,3% têm entre 30 e 59 anos. Apenas 2,6% superam os 60. O preconceito ficou claro nessas pesquisas: 33% das mulheres e 41% dos homens mexicanos asseguram que não alugariam um quarto de sua casa para uma pessoa trans.
Na Argentina, a pesquisa La Revolución de Las Mariposas: a diez años de La Gesta del Nombre Próprio (A Revolução das Mariposas: os dez anos da Conquista do Nome Próprio), de 2017 demonstrou o perfil da mulher trans naquele país: 29% tinham mais de 41 anos, quase a metade era trabalhadora sexual, 67% só haviam chegado ao ensino secundário e 69% viviam em quartos de hotel.
Da Guatemala, Galilea Monroy de León, diretora executiva da Redmmutrans (Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala), explica que em 2015, a organização realizou a primeira pesquisa populacional e identificou 7.800 mulheres trans. A investigação não abarcou homens trans, pois estavam começando a se organizar.
O déficit de números oficiais e análises mais profundas se reflete na falta de atenção social por parte do Estado. Ainda que em países como Brasil, Chile, Uruguai, Argentina e México existam avanços no reconhecimento da identidade e cobertura de tratamentos hormonais, há um abismo de necessidades não contempladas, como emprego formal, educação, acesso a cidade e a moradia adequada.
– A saúde a educação são direitos de todo cidadão e a sociedade não vê a pessoa T, travesti, transexual, homem trans, como ser humano. Como não nos veem assim, não nos dão esses privilégios que os seres humanos possuem – lamentou a brasileira Anyky Lima, de 66 anos.

À margem dos empregos formais e excluídas das políticas publicas, as mulheres trans abrem um caminho tortuoso desde a adolescência. Enquanto na juventude os mais privilegiados sonham com um futuro profissional, elas se preocupam com algo mais essencial: sobreviver.
A chilena Clara Andrade deixou o lar familiar muito jovem para evitar problemas com seu pai, que era policial.
– O velho me odiava, ainda mais porque era policial. Saí de casa e fui para um negócio em San Felipe, um prostíbulo. Eles me davam um quarto para morar e atender os clientes a noite. Era o meu quarto, mas também era meu local de trabalho. – conta.
À época, ela gostava do trabalho, diz ela, mas hoje se arrepende.
– Não deveria ter escutado meu pai e deveria ter conquistado um diploma, ou algo assim, não importa se, para isso, tivesse que ser gay, mas seria bom para ter uma carteira de trabalho, ter outro emprego, para não estar na rua.
Trabalhando na prefeitura há alguns anos, hoje vive na casa de uma amiga, Sandra.
– Não sinto que seja minha casa. Em nenhuma casa sinto como meu lar, porque não tenho casa.
Aos 66 anos, segue economizando para realizar o sonho de possuir um lugar seu.

Independência é a palavra que define a guatemalteca Brishell Zúñiga, de 51 anos. Saiu de casa aos 18 quando sua mãe tentou impor um futuro heteronormativo.
– Minha mãe queria que me casasse com uma mulher. Como disse que não o faria, ela me expulsou de casa. Desde então, tenho alugado, trabalhado e vivido sozinha, sem depender da minha família. Digo que não tenho família porque não me ajudaram em nada.
Sua transição começou um pouco mais tarde do que é comum para as pessoas trans. Ele tinha 25 anos de idade e teve dificuldades para “sair do armário”. Até então, ela vivia como gay.
– Fiquei conhecida porque joguei basquete. Nosso time era gay, naquela época não era tão trans. Tivemos que nos comportar como homens para entrar.
E assim sobreviveu e desafiou o sistema todos os dias de sua vida. Em 2019, entrou no mercado formal de trabalho como garçonete, então a pandemia chegou e ela foi uma das milhões de pessoas que sofreram seus efeitos econômicos. No entanto, não demorou a encontrar um novo emprego. Não podia se permitir ficar sem trabalhar: tinha que pagar o aluguel, comprar comida.
– Fui trabalhar com outra mulhere trans que tem um salão de beleza. Comecei a fazer limpeza, com o que ganho pago o aluguel. Atualmente pago 600 quetzales (cerca de R$ 230) por mês dos mil que ganho. Compro apenas o suficiente. Além do aluguel, tenho que comprar comida, gás que é caro, xampu, massa.

– Moro muito mal, chove mais dentro que fora. É um aguaceiro.
Francisca tem 52 anos e vive em uma cuarteria (espécie de pensão) em Cienfuegos, Cuba. É uma das 138 mulheres trans identificadas pela rede TransCuba na região: mais de 80% ganham a vida na Zona Vermelha. Ela trabalha ali desde os 14, ainda que, quatro anos antes, já se prostituía com os garotos da escola onde estudou. Em cada trabalho estatal onde se apresenta, dizem que não está qualificada.
Como muitas companheiras latino-americanas, Francesca sonha em ter uma casa: seu maior desejo é um lar que não fique molhado em dias de chuva. Dentro de sua casa, a água só cai do teto. Ela tem apenas uma torneira de água no exterior. Ela toma banho no espaço entre o vaso sanitário e a porta com um balde de água, porque não há chuveiro. Seus únicos bens são três ventiladores, duas batedeiras, duas cafeteiras, um DVD player, uma televisão e uma série de outros aparelhos. Ele não se lembra mais do sabor da carne. Sua dieta é reduzida a arroz, ervilhas e ovos.
– É luta demais e estou estropeada. Minha visão está embaçada, minhas canelas doem por correr por aí. Não é um jogo. Você tem até que procurar os clientes porque às vezes eles não vêm. Neste momento, os sabonetes custam 35 pesos cubanos (cerca de R$ 5) e eu não tenho nada com que os comprar. E eu tenho que pagar 30 pesos por um pote?
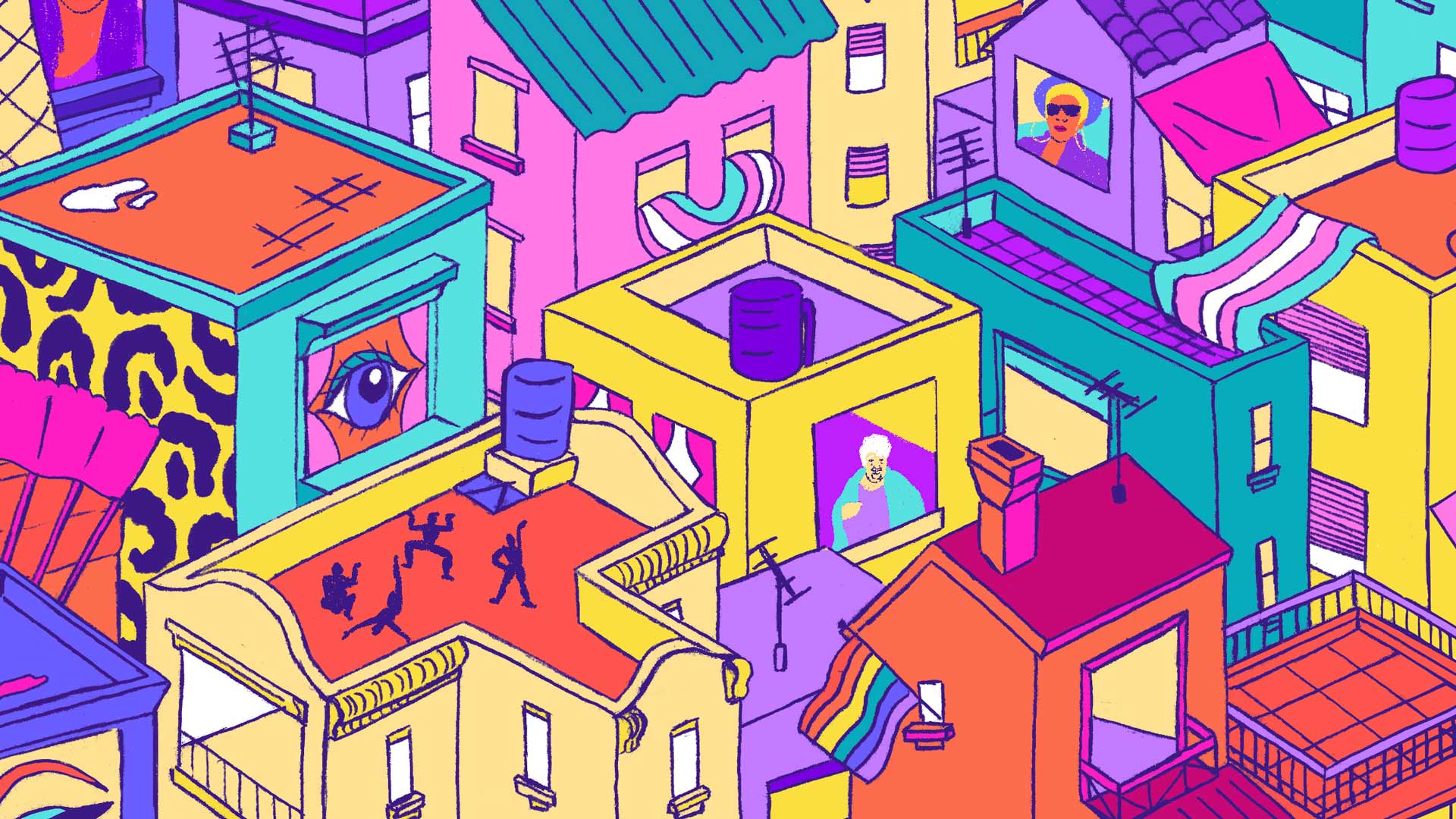
A vida da brasileira Anyky Lima seguiu um roteiro parecido ao de suas companheiras: expulsa de casa muito cedo, trabalho sexual, violência, maus tratos. E, como elas, Anyky se tornou uma sobrevivente. Contra a norma silenciosa estabelecida pela sociedade, foi subversiva até o fim: não sucumbiu à violência, mas a um câncer. Morreu em abril de 2021, aos 66 anos, semanas depois da entrevista para esta reportagem. Foi quando disse que “a gente começa envelhecer do momento que sai de casa”.
– Quando tinha meus 12 anos, minha mãe me expulsou de casa e eu fui pra rua. A gente começa envelhecer do momento que sai de casa, porque começa a ter responsabilidades. Começa a ter amor por sua vida. E sabe que tem que correr para sobreviver.
Subversão foi uma palavra chave na sua vida. Foi subversiva ao sobreviver aos 21 anos de ditadura, a violência policial, a epidemia de AIDS, a violência cotidiana que sofrem as pessoas trans no Brasil. Participou de protestos e manifestações, acolhia as mais jovens na sua casa. Se tornou uma ativista e representante mineira na Antra.
– Me sinto ousada e atrevida porque me envolvi com ONGs e na militância. Mas já não saio de casa de noite, me dá medo – contou na sua última entrevista.
Diferentemente da maioria, tinha um apartamento próprio. Mas não vivia ali: preferia alugá-lo e viver em casa que alugava há anos, onde ela e seus cachorros se sentiam mais livres. Ela era consciente de que havia superado uma marca pouco comum, a dos 35 anos como limite para sua vida. Sabia que muitas pessoas como ela enfrentavam dificuldades ainda maiores quando, além de serem trans, ficam mais velhas.
– É muito triste que uma pessoa trans mais velha sobreviva. Se precisam ser hospitalizadas e não tem conhecimentos, ficarão entre os homens. Será humilhada em todos os sentidos e todas as partes.
Apesar das dificuldades provocadas pela doença, Anyky seguiu lutando contra as desigualdades, não apenas de sua comunidade, mas das populações vulnerabilizadas no Brasil: negros, pobres, mulheres, indígenas. Para ela, a raiz da violência era a desigualdade e, contra esta e outras injustiças, seguiu lutando, se opondo a todos os preconceitos até o final de sua vida.
– Eles me querem morta, mas eles esqueceram que eu sou uma semente e uma semente renasce. Eu já renasci várias vezes. Eu sou igual aquele pássaro que renasce das cinzas. E vou renascer dessa vez das cinzas. Pra lutar, pra brigar pela minha comunidade. Enquanto existir força, existir um suspiro de vida, eu estarei lutando não só pela comunidade trans, mas qualquer ser humano.
Anyky morreu em 14 de abril. Keila, Clara, Brishell, Collette, Francesca e Gabriela, seguem vivas, e, a cada respiração, desafiam um sistema que tenta esquecê-las.
O desafio, vocês sabem, é envelhecer.
Esta reportagem é parte de El último techo, um especial transnacional do Laboratorio de Periodismo Situado.
