Ação civil pública, no valor de R$ 154 milhões, pede que governo indenize as famílias de 505 civis vítimas do Estado, em maio de 2006, e de 59 agentes públicos mortos em ataques do PCC que o governo sabia que iriam acontecer

Em 25 de maio de 2006, o promotor de justiça de direitos humanos Eduardo Ferreira Valério estava preocupado com as notícias que via na tevê e lia no jornal. Falavam sobre os ataques que a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) havia lançado, duas semanas antes, e que custaram a vida de 59 agentes públicos, a maioria policiais militares. Quando colegas do Ministério Público Estadual de São Paulo lhe propuseram assinar um documento de apoio à Polícia Militar, não teve dúvidas. Junto com outros 78 promotores, assinou um ofício em que reconhecia “a eficiência da resposta da Polícia Militar, que se mostrou preocupada em restabelecer a ordem pública violada”.
Hoje, Valério se arrepende. Ao ver sua assinatura e seu nome naquele documento de 13 anos atrás, o promotor de justiça reconhece que sua atitude significou uma fala de apoio a uma das maiores injustiças cometidas pelo Estado brasileiro: os Crimes de Maio.
Entre os dias 12 e 26 daquele mês, em 2006, policiais que vestiam a farda do seu trabalho oficial ou as toucas ninjas dos grupos de extermínio reagiram aos ataques do PCC matando 505 pessoas, a maioria jovens pobres, negros e sem ficha policial, moradores de bairros pobres na região metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista. Uma das vítimas, que não aparece nessa conta, foi Bianca que, aos nove meses e 48 centímetros, foi baleada ainda no útero da mãe, Ana Paula Gonzaga dos Santos, no dia 15 de maio, em Santos (SP), por um homem que testemunhas reconheceram como policial.
“Aquela assinatura [no ofício de apoio à Polícia Militar] fora fruto dos temores decorrentes das poucas informações e do anúncio dos riscos a que estariam submetidos os agentes públicos em geral. Visto à distância e decorrido o tempo, fica evidente o equívoco daquele documento”, reconhece o promotor Eduardo Ferreira Valério, 13 anos depois, num documento em que “vale-se deste momento para retratar-se e apresentar escusas aos familiares dos muitos mortos daqueles dias”.
O pedido de desculpas do promotor aparece em uma nota de pé de página de um documento de 1.726 páginas. É muito mais do que uma retratação pessoal. Trata-se da petição inicial de uma ação civil pública, dirigida à 16ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em que a Promotoria de Justiça de Direitos Humanos do Ministério Público Estadual pede à Justiça que condene o governo paulista a pedir desculpas pelos suas violações e a indenizar os familiares das 564 vítimas dos Crimes de Maio (leia aqui a versão de 145 páginas, sem os anexos).

Segundo o texto da petição inicial da ação, assinada pelos promotores Eduardo Ferreira Valério e Bruno Orsini Simometti, e pelo analista jurídico Lucas Martins Bergamini, o Estado de São Paulo foi responsável por todas as mortes. Não só pelos 505 assassinatos de civis, cometidos por policiais e grupos de extermínio, mas também pelas mortes dos 59 agentes públicos em ataques do PCC. Segundo a ação, “o Estado sabia que os ataques aconteceriam e, mesmo assim, deixou de avisar e alertar os policiais militares, inclusive bombeiros, que não puderam se preparar e se proteger; e, em consequência, foram pegos de surpresa e acabaram mortos”.
O valor total da ação para a Fazenda Pública é calculado em R$ 153.577.200. Pela proposta do MP, os familiares dos mortos receberão R$ 136.150 em indenização por danos morais, além do fornecimento de assistência psicológica gratuita e do pagamento por danos materiais, como tratamentos e despesas com funerais. Para os parentes dos feridos, a indenização solicitada é de R$ 68.075. Se o Estado vier a ser condenado, as famílias deverão mover processos individuais para receber os valores.
Os promotores também pedem que o Estado pague o mesmo valor previsto para as indenizações individuais, de R$ 76.788.600, para o Fundo Estadual de Reparação dos Interesses Difusos e Coletivos Lesados, por conta dos danos sociais provocados pelos crimes.
Danos sociais são ações que geram mal-estar social, que rebaixam o nível de vida de uma coletividade. Segundo os promotores, em maio de 2006 o Estado, “a partir de atos de seus agentes, causou danos a centenas de pessoas, promovendo a morte de mais de 500 jovens e deixando familiares e amigos entregues ao abandono”.
Pedido de desculpas
Além das indenizações, os promotores pedem que o Estado de São Paulo faça “um pedido formal e público de desculpas às vítimas e seus familiares”, publicado em pelo menos três jornais de grande circulação, nas redes sociais e no site do governo estadual. A ação também prevê que o Estado deverá produzir e divulgar um vídeo institucional, “no qual sejam ouvidos os familiares das vítimas, a fim de se permitir que suas histórias sejam registradas, contadas, conhecidas, respeitadas e perenizadas, criando-se uma narrativa oficial, baseada na memória oral, sobre os fatos que se deram em maio de 2006”.
Em seus pedidos, os promotores seguem os quatro princípios da Justiça de Transição, um conjunto de medidas criado para garantir a consolidação da democracia em países que passaram por regimes autoritários: direito à verdade e à memória, reparação das vítimas, tratamento jurídico adequado aos crimes do passado e reforma das instituições para garantir a democracia e evitar novos crimes no futuro.
O texto considera que, embora os Crimes de Maio tenham ocorrido durante o período democrático, foram violações cometidas por uma polícia que ainda carrega as marcas da herança não superada da ditadura militar. Por isso, é válido usar para esses crimes os instrumentos da Justiça de Transição. “O modo de atuar da polícia, com desprezo pelos oficiais de baixa patente e tolerando a formação de grupos de extermínio dentro da própria corporação, traços típicos do regime de exceção que vigorou entre 1964 e 1985, possibilitou o clima de revanchismo que resultou no assassinato de 505 civis em 2006”, afirmam os promotores.

Como a Promotoria de Justiça de Direitos Humanos não tem atribuição criminal, contudo, a ação civil pública não prevê punição para policiais ou governantes envolvidos nos Crimes de Maio. Na época dos Crimes de Maio, São Paulo era governado por Cláudio Lembo (ex-PFL, atual DEM). Ele havia assumido no lugar de Geraldo Alckmin (PSDB), o qual havia renunciado para disputar a Presidência da República. O secretário da Segurança Pública era Saulo de Abreu Castro Filho e o da Administração Penitenciária, Nagashi Furukawa.
Para chegar aos valores das indenizações, a ação se baseou nos parâmetros estabelecidos por uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, em 2017, condenou as autoridades brasileiras por não terem punido um grupo de policiais, que em 1994 e 1995, matou 26 pessoas e estuprou três jovens, duas delas adolescentes, na Favela Nova Brasília, no Rio de Janeiro.
A guerra que não era – e os mortos que deixou
As mães que sobreviveram aos próprios filhos, após maio de 2006, seguem vivendo com uma dor do tamanho de suas vidas. É algo presente todos os dias, que elas tentam descrever como uma mutilação física, que nunca deixa de sangrar. “Quando eu chegava em casa para ver meu filho, chegar e não encontrar uma parte do meu corpo, ali, foi difícil demais, é horroroso”, conta a diarista Ilza Maria de Jesus Soares, 60 anos, que perdeu Thiago Roberto, um jovem brincalhão e sorridente de 19 anos, “de papo reto” no falar e no agir, que a buscava de guarda-sol no ponto de ônibus. Thiago foi morto a tiros no dia 14 daquele mês e daquele ano, quando voltava de uma pizzaria, por um grupo de quatro homens que vestiam capuzes e andavam num carro preto, conforme o figurino dos grupos de extermínio. “Eles não mataram só nossos filhos. Também mataram a gente.”
Nos primeiros dias, ao entrar no quarto do filho e encontrar a ausência dele presente em tudo, Ilza chorava e saía batendo nas paredes, então chorava, gritava, chorava e tornava a chorar, até ficar seca de lágrimas. “Depois ia tomar banho e dormir porque no dia seguinte tinha que trabalhar de novo.” Foi o trabalho que a salvou. “Eu só não fiquei doida, como aconteceu com outras mães, porque comecei a trabalhar muito.” Trabalhando sem parar, mantinha-se tão ocupada que conseguia esquecer um pouco de si própria e da parte de si que estava faltando.
Sobre a ação movida pelo Ministério Público, Ilza acha que é “o mínimo que eles poderiam fazer por nós” e lamenta que as indenizações não possam apagam a dor. “Isso não vai trazer nossos filhos de volta. Não limpa a alma”, diz. Sim, é pouco, mas também é justo, afirma em seguida. “Todas nós temos o direito de receber essa indenização por parte deles, isso sim. Nossos filhos não têm culpa dessa guerra que eles resolveram fazer.”
A “guerra que eles resolveram fazer”, e na qual tombaram tantas pessoas como Thiago, sem qualquer relação com os lados do conflito, foi deflagrada em 12 de maio, depois que a Secretaria da Administração Penitenciária resolveu transferir 765 homens do PCC para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. A cúpula do PCC, então, iniciou uma série de rebeliões que atingiu 74 dos 105 presídios de regime fechado no Estado e deflagrou uma onda de ataques a tiros contra agentes públicos.

A petição dos promotores menciona uma série de indícios apontando que o governo paulista sabia que o PCC iria atacar, mas não avisou a maioria dos seus profissionais. “O PCC matou dezenas de agentes públicos, todos de baixo escalão. Geralmente, os funcionários foram surpreendidos em seu horário de folga, nos primeiros dois dias da onda de violência, em razão da falha do governo em alertar devidamente seus policiais e agentes penitenciários sobre o ataque que já havia sido anunciado”, afirma a petição, citando um trecho do relatório São Paulo Sob Achaque, produzido em 2011 pela Clínica Internacional de Direitos Humanos da Faculdade de Direito de Harvard, nos EUA, em parceria com a ONG Justiça Global, e que tem entre seus autores a atual procuradora-geral da República, Raquel Dodge.
Embora a transferência de presos para a P2 de Venceslau tenha funcionado como estopim, as motivações da facção para confrontar o Estado eram anteriores e tinham relação com a corrupção policial. Investigações da Polícia Civil apontam que policiais de Suzano (Grande SP), comandados pelo investigador Augusto Peña, vinham praticando uma série de extorsões contra familiares de presos do PCC, inclusive o sequestro de um enteado do líder máximo da facção, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, libertado após o pagamento de um resgate de R$ 300 mil, em março de 2005.
O que veio em seguida, porém, nunca esteve perto de uma guerra, como o poder público costuma descrever. “Pouco tempo após os primeiros ataques realizados pelo PCC nos dias 12 e 13 de maio de 2006, a Polícia Militar e grupos de extermínio, possivelmente também formados por policiais militares, começaram a revidar as mortes dos policiais vitimados. Foi a partir deste momento que civis começaram a morrer com maior frequência”, afirma o texto dos promotores.
Enquanto as mortes de agentes públicos se concentraram nos dias 12 e 13 e cessaram no dia 18, as mortes de civis se intensificaram entre os dias 14 e 17 e continuaram a ocorrer até 26 de maio, numa série de ocorrências em que as pessoas eram mortas sem que qualquer policial saísse ferido. “Essa situação indica claramente que não houve confronto, mas sim execução, em represália às mortes dos agentes públicos nos primeiros dias dos Crimes de Maio”, diz o texto da petição.
Os promotores afirmam que, após os ataques do PCC, policiais e grupos de extermínio promoveram uma ação de vingança, que “se deu de modo sistemático nas periferias das grandes cidades”. Segundo a petição, “há indícios concretos de que houve extermínio, a partir de estudos criminalísticos produzidos sobre o caso”, como o fato de que, das 564 vítimas, 484 levaram tiros na cabeça.
Foi uma vingança que não se voltou especificamente contra membros do PCC, mas contra todos os jovens e negros que estivessem na rua das periferias daqueles idos de maio. Os assassinos agiam sempre da mesma forma, segundo os promotores. Primeiro, policiais militares passavam nos bairros pobres anunciando um “toque de recolher” e, pouco depois, homens encapuzados apareciam atirando em quem tivesse permanecido na rua. Por fim, a PM voltava ao local para eliminar provas: “Logo depois dos homicídios, praticados por meio de inúmeros disparos em áreas vitais, a Polícia Militar chegava para alterar o local do crime e inviabilizar a produção de provas em eventual processo criminal”.
Mais da metade das vítimas eram jovens negros, 80% delas tinham até 35 anos e apenas 6% possuíam alguma passagem pela polícia. Os promotores concluem que “a grande maioria dos civis que morreram não tinha qualquer envolvimento com a criminalidade e que “isso indica que a atuação da Polícia Militar e dos grupos de extermínio se deu nas periferias, vitimando aleatoriamente pessoas pobres, sem vínculos com o crime organizado”.
Nos anos seguintes, afirma a petição, “os assassinatos de agentes estatais foram devidamente investigados e punidos, enquanto as investigações envolvendo morte de civis foram em regra arquivadas”.
Quem ouviu as mães
“Nós, mães, não parimos e não criamos filhos para o Estado se alimentar do sangue deles e da carne dos corpos negros e pobres”, ataca a educadora popular e pesquisadora Débora Maria da Silva, 59 anos, uma das mulheres que assumiu para si a missão de usar seu corpo e voz para viver e falar pelos jovens negros que o Estado executa. O filho de Débora, Edson Rogério Silva dos Santos, que trabalhava como gari, foi encontrado morto com cinco tiros aos 29 anos, naquele maio de 2006, após ser abordado por policiais militares em um posto de gasolina de Santos (SP). Antes do filho, a violência policial já havia levado o pai de seus filhos e um irmão de Débora.
O choque pela morte do filho a jogou numa cama de hospital, onde permaneceu por cinco dias, até receber uma visão de Rogério, que lhe dizia para não se entregar e lutar pelos vivos. Débora se levantou no mesmo dia e, desde então, não parou mais de lutar. Juntou-se a outras mães de vítimas dos Crimes de Maio da Baixada Santistas – Vera de Freitas, mãe de Mateus Andrade de Freitas, e Ednalva Santos, mãe de Marcos Rebelo Filho – e criaram o grupo Mães de Maio, para lutar por justiça para os crimes cometidos pelo Estado antes, durante e depois de maio de 2006. Outras mães, que os policiais também haviam assassinado por dentro, juntaram-se ao grupo. Ilza, a mãe de Thiago, foi uma delas. Como o Estado não para de matar, as Mães de Maio se tornam mais numerosas a cada dia.
Se os Crimes de Maio não caíram no esquecimento, é muito graças a essas mães que nunca pararam de gritar a sua dor, por elas e pelas outras. Se a Justiça tem se mostrado surda em relação ao seu apelo, as mães tanto fizeram que encontraram outros ouvidos dispostos a ouvi-las, em alguns setores das universidades, da militância de direitos humanos e do jornalismo.
Uma das primeiras a ouvir as mães foi a jornalista Rose Nogueira, ela própria uma sobrevivente da violência de Estado, que em 1969 foi presa como terrorista quando ainda amamentava um filho de 33 dias. Rose, que em 2006 presidia o Condepe (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos) reconheceu, naquelas mães de jovens mortos pelo Estado democrático, a mesma dor dos perseguidos pela ditadura. Ajudou a criar uma comissão independente para investigar os Crimes de Maio, com a participação de diversas entidades da sociedade civil, entre elas o Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo), autor de um relatório que apontava indícios de execução em 60% a 70% de 124 dos Crimes de Maio registrados pela polícia como “resistência seguida de morte”.
Os relatórios do Cremesp e do Condepe foram os primeiros trabalhos de investigação independente sobre as matanças de maio de 2006, que procuravam revelar o que os inquéritos policiais fingiam não ver. Nos anos seguintes, vieram outros: a Análise dos impactos do PCC em São Paulo em Maio de 2006, feita pela Laboratório de Análise de Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a pedido da ONG Conectas, o relatório São Paulo Sob Achaque, e o mais recente, Violência de Estado no Brasil: uma análise dos Crimes de Maio de 2006 na perspectiva da antropologia forense e justiça de transição, publicado no ano passado pela Unifesp (Universidade Estadual Paulista), e no qual Débora Maria da Silva figura como uma das pesquisadoras.
Na ocasião da publicação, Débora, em entrevista à Ponte, explicou o que diferenciava esse de outros estudos: “O que interessa dessa pesquisa é o perfil de quem foi morto. Antes as vítimas eram suspeitos. Agora, ela tem nome, rosto, história”, disse a fundadora das Mães de de Maio, que contou o quanto caminhou para poder, casa por casa, identificar e mapear as famílias vítimas dos Crimes de Maio. “O primeiro contato é o abraço. O abraço é um colo que você não tem noção. Depois, vamos dando segurança para aquela mãe falar sua história, a do menino, que era a que mais interessava para nós”, pontuou.
Todos esses estudos, além de outros sobre a violência estatal brasileira, feitos por Human Rights Watch e Anistia Internacional, embasam a petição inicial da ação pública movida pelos promotores. “A narrativa, pois, não é mera apreciação subjetiva desta Promotoria de Justiça, mas, sim, resultado de percuciente e demorada análise dos estudos e relatórios, de diversas e respeitáveis fontes, elaborados por Universidades (públicas brasileiras e estrangeiras), Órgãos Públicos com atribuição legal no assunto, Organizações Não Governamentais com expertise no tema e Conselhos Regionais profissionais”, afirmam.
Débora recebeu com alegria a notícia sobre o pedido de ação civil pública. “A reparação tem que sair, para que o país seja condenado pelo maior massacre da história contemporânea e isso nunca mais aconteça”, torce. O mesmo deveria acontecer, afirma, para os outros crimes do Estado, que continuam a deixar vítimas em todos os outros meses do ano. “Para toda chacina que ocorre no país, tem que haver uma ação civil pública”, pede.
Para as Mães de Maio, não deixa de ser uma vitória que uma petição do Ministério Público do Estado de São Paulo chame o movimento de “vigorosa reação social” e fale de sua “importância reconhecida” após a perseguição que o movimento sofreu nas mãos de outros promotores de justiça. Uma das Mães de Maio mais ativas, Vera Lúcia Gonzaga dos Santos – que perdeu nos Crimes de Maio o genro, Eddy Joey de Oliveira Lavezaris, e a filha Ana Paula, grávida de nove meses – foi condenada em 2008 por tráfico de drogas e passou dois anos e meio na prisão. Segundo as Mães de Maio, a acusação foi forjada pela polícia, para prejudicar Vera por conta de sua militância política, e aceita por Ministério Público e Justiça. Mesmo sem outras provas além da palavra dos policiais, o juiz Walter Luiz Esteves de Azevedo condenou Vera argumentando que os policiais “não conheciam os acusados e não teriam motivo para prejudicá-los injustamente”.
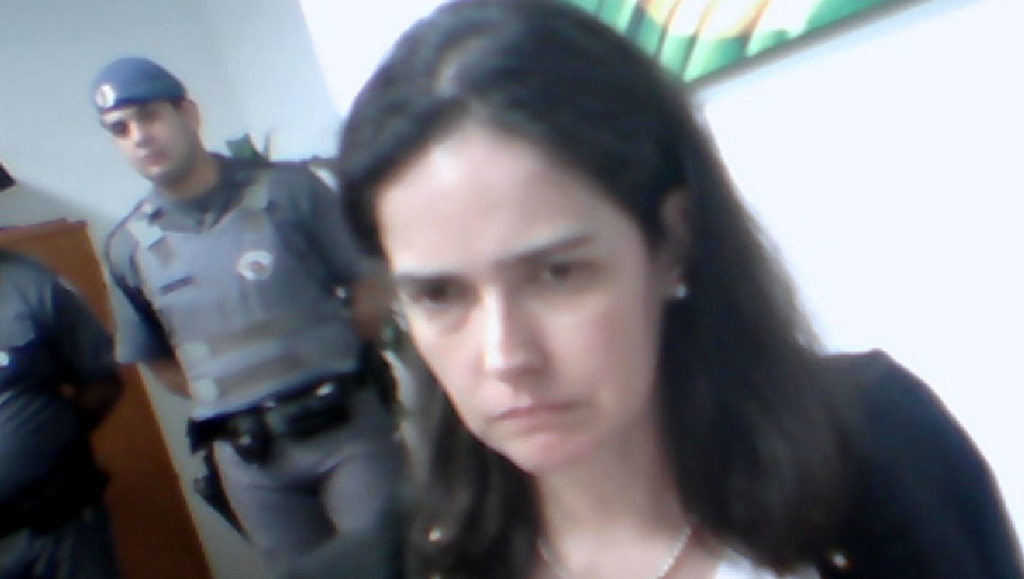
Em 2015, veio outro golpe doloroso desferido pelo MP paulista, quando uma promotora de de Praia Grande (SP), Ana Maria Frigério Molinari, afirmou numa audiência judicial ter recebido a informação de que as Mães de Maio seriam formada por mães de traficantes, que teriam passado a gerenciar biqueiras após a morte dos filhos, e que por isso se empenhariam em denunciar “policiais que efetivamente combatiam o tráfico de drogas”. A promotora nunca formalizou qualquer acusação nem apresentou provas do que dizia. Não era uma denúncia, era só uma calúnia. Procurada pela reportagem na época, a promotora se recusou a comentar sobre suas declarações. Por ordem judicial, a Ponte foi obrigada a retirar do ar o vídeo que mostrava promotora atacando as Mães.
A resposta do Estado: “o distante maio de 2006”
Na contestação enviada à 16ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em resposta à petição da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, a procuradora do Estado Mirna Cianci pede a extinção do processo e considera “absolutamente inadequada a ação civil pública para dar guarida à pretensão nela veiculada”, afirmando que falta homogeneidade entre os crimes elencados pelos promotores, já que “há inúmeros casos em que sequer se constatou a participação de agentes públicos”.
Referindo-se ao “distante maio de 2006”, a procuradora Cianci afirma que “as ações reparatórias contra o Estado de São Paulo prescrevem em cinco anos contados do ato ou fato” e que comparar os Crimes de Maio com as torturas do regime militar para dizer que são imprescritíveis, como faz o MP, “não faz nenhum sentido”.
Em um dos trechos da contestação, na página 25, a procuradora se refere ao golpe militar de 1964 como “revolução de 1964” (leia a íntegra aqui).
Ainda segundo a procuradora, o Estado de São Paulo também se nega a pedir desculpas pelos Crimes de Maio, “porque em momento algum reconhece a Administração Pública – e não há prova em contrário –, a efetiva participação de policiais militares nos crimes relatados na inicial, muito menos na qualidade de agente públicos” e afirma que um eventual pedido de desculpas dispensaria o pagamento de indenização financeira.
Sobre as violações apontadas na petição do MP, a procuradora afirma que “encontra-se a Fazenda do Estado impossibilitada de exercer de modo amplo a defesa, por conta da falta de individualização dos eventos aos quais se referem como sendo ilegais” e que a “generalização” usada pelos promotores “acaba por causar grave prejuízo ao contraditório e à ampla defesa”.
“Quero ouvir o Estado dizer: ‘Desculpa. Te peço perdão'”
Para muitas famílias, mesmo que o Estado venha a ser condenado na ação civil pública da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, a reparação terá chegado tarde demais. É o caso de Vera Lúcia Gonzaga dos Santos. No ano passado, no terceiro dia de maio, um mês que é especialmente duro para todas essas mães, Verinha, como era conhecida, foi achada morta em sua cama, ao lado das fotos da filha caçula e do genro.
Pessoas próximas contam que Verinha sentia muita dor por não ver perspectiva de Justiça para sua história, após tantos anos de luta, e continuar a testemunhar as mortes de jovens que nunca pararam de acontecer. Vera dizia que volta e meia cruzava em Santos com os PMs que haviam matado sua filha, e que tinha cada vez menos esperança de ver algum deles responsabilizado pelos crimes. “Verinha sobreviveu a um cárcere, sobreviveu à morte da filha, da neta, do genro, mas não sobreviveu à decepção de ver que isso não acabava nunca, que cada dia tem mais gente morrendo…”, contou, na época da morte de Vera, a produtora cultural Hemoly Talita, também das Mães de Maio.

Doenças da mente e do corpo passaram a acompanhar muitas das mães de jovens que o Estado matou. “Eu fiquei doente. Minha filha adoeceu, teve que tomar remédio para dormir. O pai dele faleceu. Tem mães que estão morrendo. É uma atrás da outra”, relata a cabeleireira Maria Sônia Lins, 60 anos, também uma Mãe de Maio. Seu filho, Wagner Lins dos Santos, foi morto aos 22 anos, quando ele e um primo se dirigiam a casa de uma tia para jogar videogame, em Santos.
A mãe tinha ouvido falar que a polícia decretara toque de recolher e pediu que o filho ficasse em casa naquela noite, mas o menino não acreditava que nada pudesse acontecer com ele. “Sossega, Dona Maria, eu vou”, foi uma das últimas palavras que ouviu da boca do menino. “No dia que mataram ele, ele veio aqui, almoçou comigo e depois pediu para eu fazer a unha dele, cortar o cabelo dele. Ele andava muito bem vestido. A última imagem que eu tenho é ele saindo de bicicleta. Eu guardo essa imagem até hoje”, relata. Horas mais tarde, conforme o relato de um primo que estava com Wagner e sobreviveu, o jovem foi baleado na rua por um grupo de homens encapuzados.
Na vida de Sônia, maio de 2006 não é uma data distante como para a procuradora do Estado: é uma época que grita dentro dela todos os dias.
Para quem vive a dor de ser vítima de um Estado e carrega o estigma que a morte pela polícia acrescenta à dor, os olhares tortos de quem acha que, se foi morto pela polícia, é porque estava devendo, tem um aspecto do pedido da ação civil pública que faz tanta diferença quanto os valores em dinheiro. Provavelmente mais. É o reconhecimento de que o Estado errou ao matar seus filhos. Quando fala do que espera da ação dos promotores, é a primeira ideia que Sônia menciona. Ela queria ver o Estado pedir perdão a ela, uma mãe, por levar seu filho.
“Até hoje não recebi nenhum telefonema do Estado pedindo desculpa pelo que fez com meu filho. Eu gostaria de ver alguém do Estado dizer: ‘Desculpa. Te peço perdão’. Não só comigo. Com todas.”
*Colaborou: Paloma Vasconcelos

[…] após o PCC matar 43 agentes públicos, a maioria nos dias 12 e 13 de maio de 2006. Entre os dias 12 e 26 daquele mês, policiais que vestiam a farda do seu trabalho oficial ou as toucas ninjas dos grupos de […]
[…] Ponte Jornalismo – Em 25 de maio de 2006, o promotor de justiça de direitos humanos Eduardo Ferreira Valério estava preocupado com as notícias que via na tevê e lia no jornal. Falavam sobre os ataques que a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) havia lançado, duas semanas antes, e que custaram a vida de 59 agentes públicos, a maioria policiais militares. Quando colegas do Ministério Público Estadual de São Paulo lhe propuseram assinar um documento de apoio à Polícia Militar, não teve dúvidas. Junto com outros 78 promotores, assinou um ofício em que reconhecia “a eficiência da resposta da Polícia Militar, que se mostrou preocupada em restabelecer a ordem pública violada”. […]