Em seu novo livro, Cida Bento debate o conceito de “pacto da branquitude” e analisa, dentre outras coisas, a relação do racismo com a segurança pública e o judiciário
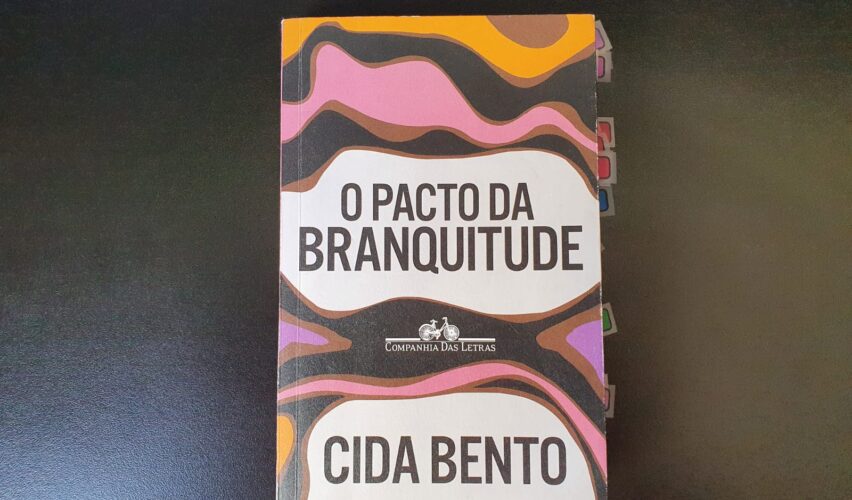
Conheço o termo “pacto da branquitude” há menos tempo do que gostaria, mas desde que li sobre ele e a mulher que o cunhou, a psicóloga, escritora e ativista Cida Bento, muitas coisas fizeram sentido na minha trajetória pessoal e profissional enquanto mulher negra. Recentemente, pude mergulhar no tema com o livro O Pacto da Branquitude, lançado no último mês pela Companhia das Letras, e observei – sem muito espanto – a abrangência dessa relação de poder herdada do período colonial.
Não espere um livro longo e prolixo, uma leitura truncada e perdida em elocubrações teóricas. Em 148 páginas, Cida Bento doa de sua própria trajetória para remontar como nossa sociedade está construída sob a premissa de uma hierarquia na qual, para que haja gente no topo é preciso que uma base seja massacrada. Ao compartilhar a dor da sequência de recusas de emprego, a psicóloga desenha uma vivência muito comum para pessoas negras: a sensação de que, por mais que estudemos e por mais brilhantes que sejamos, nunca conseguiremos alcançar determinadas posições.
E isto não se dá por falta de competência ou mérito, mas, de acordo com a autora, por um acordo tácito para manter a herança de poder que pessoas brancas receberam da escravização de corpos negros. Herança que tem sido sistematicamente protegida, estimulada e perpetuada, mesmo com o fim oficial do sistema. Afinal, para manter os privilégios, é preciso que nada mude e estes sejam passados para as próximas gerações. Para que os brancos gozem de acesso, dignidade e oportunidade, é preciso que pretos e indígenas sigam no lugar subalternizado onde foram colocados há séculos, passíveis de fome e morte.
Apesar de ter cunhado o termo dentro do âmbito do mercado de trabalho, em seu livro Cida alarga o escopo para todas as áreas de nossa sociedade. O acesso a educação, saúde e segurança irá depender da herança de sua pele. O que me chamou a atenção foi ver no livro o tema da segurança pública. Trazendo os conceitos de autoritarismo, nacionalismo e masculinidade branca, Bento revela como o pacto atua para criar a sensação territorial e social de “nós” e “eles”, onde o elemento “estranho”, negro, é visto como invasor violento e perigoso, o alvo favorito de operações, abordagens, acusações e, mesmo sem provas, como constantemente retratamos na Ponte, prisões e julgamentos, tudo feito pelos detentores do poder, herdeiros do privilégio branco.
Nesse contexto, para a autora, é preciso que haja a comunhão dos iguais brancos liderados por machos autoritários para que a ordem vigente – leia-se, os privilégios – seja mantida como está, custe o que custar. É exatamente aqui que nos encontramos no Brasil. É neste ponto que o genocídio de um grupo se dá sem causar nenhum constrangimento ou horror, pois há corpos que podem morrer para que outros possam gozar de benesses. A eliminação é mera política de manutenção da ordem.
Não saberia dizer como será a experiência de leitura de O Pacto da Branquitude para uma pessoa branca. Mas se pudesse apostar diria que incômodo, mesmo para aquelas que se dizem aliadas antirracistas. Afinal, o livro é um convite contundente a se encarar e se reconhecer como herdeiros dos colonizadores, membros do grupo sem raça, universal, e, portanto, participantes ativos ou passivos do pacto. E este pode ser um remédio bem amargo que precisa ser tomado, se se quer de fato sair do mundo discursivo e passar ao mundo da ação antirracista. Este é um passo necessário a fim de que o pacto atual seja quebrado e um novo acordo civilizatório seja construído coletivamente, como propõe Cida Bento no livro.
* Jessica Santos é editora de relacionamento da Ponte