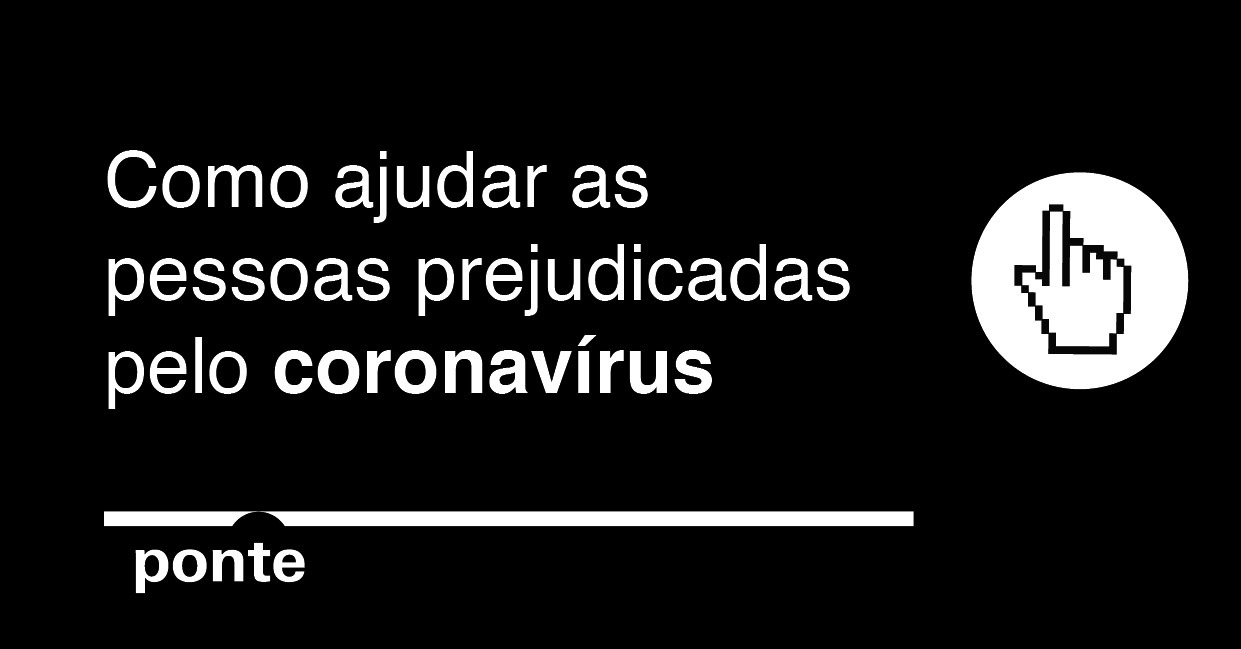Roteirista conta como sua trajetória de mulher negra, que já trabalhou como doméstica, deu propriedade à tira antirrracista
Cria de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, Triscila Oliveira, 35 anos, ainda não se vê como roteirista, apesar de escrever a tira “Os Santos“, ao lado do ilustrador Leandro Assis, desde a sexta tira, de janeiro de 2020. “Eu sou aspirante à roteirista. Estou fazendo um curso agora durante a pandemia”, conta.
A tira, que já foi censurada pelo Instagram, retrata a vida de uma família branca e rica, típica da elite carioca, que tem uma família negra de empregados, em que as desigualdades de raça, classe e gênero são comumente ilustradas. Por conta da pandemia do coronavírus, o projeto foi pausado para dar espaço à tirinha “Confinada”, que critica a cultura do bem-estar dos influenciadores digitais durante o isolamento, mostrando o racismo e as questões de classe que estruturam esses estilos de vida.
Filha, sobrinha e prima de empregadas domésticas, aos 12 anos Triscila também trabalhou como doméstica para ajudar em casa. “A minha história de vida é a história daquelas domésticas. Eu tenho mais do que propriedade para estruturar a vivência daquelas domésticas”, explica Triscila.
Leia também: Instagram censura artistas com conteúdos antirracistas
Em entrevista à Ponte, a escritora lembra a importância de eventos culturais nos quadrinhos em que o foco não é a elite cishétero branca, principalmente o Perifacon, a Comic Con da favela, que teve a primeira edição em março de 2019, e foi idealizada por pessoas negras e periféricas.
“Eu queria muito que tivéssemos aqui no Rio o Perifacon, porque é [um universo] elitizado demais. Deveria ir para o Brasil inteiro. Precisamos de apoio financeiro para levar isso para os outros locais. Para quem é interessante o Perifacon? Para quem é interessante o Poc Con?”, questiona.
“As estruturas conversam para que o excluído da sociedade continue nas periferias e nas margens, bloqueados socialmente de todas as chances de oportunidades, de educação, trabalho e afeto, para a manutenção dos privilégios”, completa.
Triscila critica a onda de protestos contra o racismo que durou “duas semanas em junho e acabou” e considera que os levantes só aconteceram por causa do episódio de George Floyd, homem negro morto por um policial branco nos Estados Unidos e que gerou uma revolta que percorreu o mundo. “O nosso racismo precisa de uma validação no estrangeiro. Foi normalizada e normatizada a dor do preto. Existe um fetiche com o nosso sofrimento”, lamenta. “Não temos um caso de George Floyd a cada 23 minutos, mas temos um Miguel, um Pedro, um João a cada 23 minutos”, destaca.
Falar em luta antirracista, contra o machismo e a LGBTfobia, afirma Triscila, é olhar internamente e entender os privilégios. “Querendo ou não, nossa existência é ferramenta de opressão. A minha existência, fundamentada dentro dos pilares de opressão, vai oprimir outra pessoa. Eu preciso olhar dentro de mim e ver onde estou produzindo dor em alguém e começar a minimizar isso”.
Leia também: Maior desafio foi construir minha masculinidade sem referência, afirma quadrinista trans
Por isso, aponta, a representatividade é crucial na construção da autoestima e da autoconfiança de pessoas negras, principalmente crianças. “Se você cresce se vendo em todos os lugares, você sabe que você pode chegar em todos os lugares. É simples assim”.
“Se você tá em uma sala de espera e está em todas as capas de revistas, se você é a cara de todas as campanhas de publicidade, você está se vendo. O contrário de tudo isso é você tentar buscar uma representatividade. Eu, na sala de espera, sou auxiliar de serviços gerais. Você é a dona da clínica. Esse é o abismo que separa pessoas brancas de pessoas negras”, avalia.
Triscila conta que cresceu em referências de mulheres pretas até os anos 2000. “Quando você cresce sem representatividade positiva, você acha que o seu local é o de subalternidade, de empregado. A cada geração a gente vê que, a passos de formiga, estamos nos vendo na televisão de forma mais positiva. Ver a gente via, mas não era em um bom local”, pondera.
A escritora aponta que é preciso entender, quando se é uma pessoa negra, LGBT+ ou possui alguma deficiência, que “você não é a sua luta”. “A luta faz parte de você. Você é integrante da sua identidade, ela não é você”, frisa.
Por isso, afirma, uma pessoa negra não pode ser resumida a falar apenas de racismo. “A gente sabe falar de várias outras coisas, mas é o público que só veem a gente pela cor da nossa pele. Eu não sou dor, não sou luta. As pessoas definem a gente e acham que só podemos falar daquilo ali. Quando a gente só fala daquilo, acabamos nos tornando só aquilo”, critica.
“Então é necessário reconhecer um limite: sou um ser humano que ri, que chora, que faz bolo, que sai, que brinca, que rebola até o chão. É necessário que você não se veja pelos olhos dos outros para você não se perder em quem você é”, finaliza.