Um número significativo de jovens brasileiras pobres encontraram no tráfico de drogas um meio de obter renda, autonomia e poder. Para muitas, é uma forma de superar a precariedade que as rodeia, mas também encaram uma repartição desigual de tarefas e são constantemente expostas a riscos. Essa realidade revela um paradoxo: como as estruturas do narcotráfico se aproveitam da vulnerabilidade social, econômica e de gênero do Brasil para preencher suas fileiras com mão de obra fácil e barata

O cabelo cacheado e os olhos pretos entusiasmados ao revelar como conseguiu o trabalho em um ponto de comércio de drogas em São Paulo eram as únicas características visíveis em Ana Bianca* por trás da máscara de proteção contra a Covid-19. A menina de fala acelerada usa as mãos para explicar mais didaticamente que em 2019 fugiu de casa e foi morar em um lugar “arrumado” por um amigo da escola, gerente de uma biqueira. Mesmo antes de deixar o local em que vivia com a tia, a mãe e o padrasto, a menina já havia pedido a Leandro que a deixasse trabalhar com ele. “Ele falava ‘não se envolve nessa vida, não vai te levar a lugar nenhum’ e eu pedia ‘deixa eu trampar na biqueira com você?’. Quando eu saí de casa, ele me deixou trampar.” Pouco depois que a jovem começou a trabalhar no comércio ilícito de drogas, o amigo foi preso. Nesse momento, o dono da biqueira, como são conhecidos os pontos de venda das substâncias, propôs à menina que assumisse a gerência do local. “Comecei a trabalhar muitão. Eu gostava porque estava conquistando minha casinha, sabe? Consegui alugar um cantinho pra mim. Comprei um terreninho lá na comunidade e levantei uma casinha. Eu tinha de tudo.”
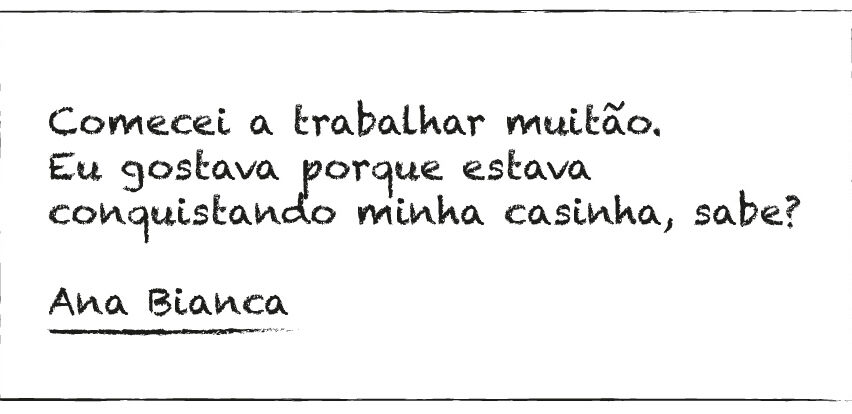
Assim como Ana Bianca, as jovens Vanessa e Emily relatam terem experimentado no tráfico tudo aquilo que não puderam vivenciar dentro de casa. “Comecei a conhecer o mundo e queria de tudo. Quando você está lá se sente com muito poder. Aí você pensa: quero ter esse poder pra mim”, afirma Vanessa. Emily seguiu os passos do pai e herdou os pontos de comércio de drogas gerenciados por ele quando foi preso. “Eu gostava de mandar, adorava sentir que eu comandava as coisas.” Não à toa, o trabalho ilícito no tráfico representa para as jovens o desejo de serem libertas, da conquista da dignidade na construção de suas vidas e da afirmação da autonomia diante do mundo. Sob a intensa rotina das biqueiras, meninas exercem tarefas de elevado grau de responsabilidade, comandam pares masculinos que atuam no transporte das drogas, acumulam funções, respondem diretamente a membros de organizações criminosas e se desdobram para alcançar posições de mais destaque nas hierarquias e expedientes do tráfico. Entretanto, os ambientes majoritariamente dominados por homens impõem a elas a mesma desigualdade sexual do trabalho presente em outras esferas sociais, a ruptura precoce com a infância e o contato cada vez mais frequente com a violência policial.
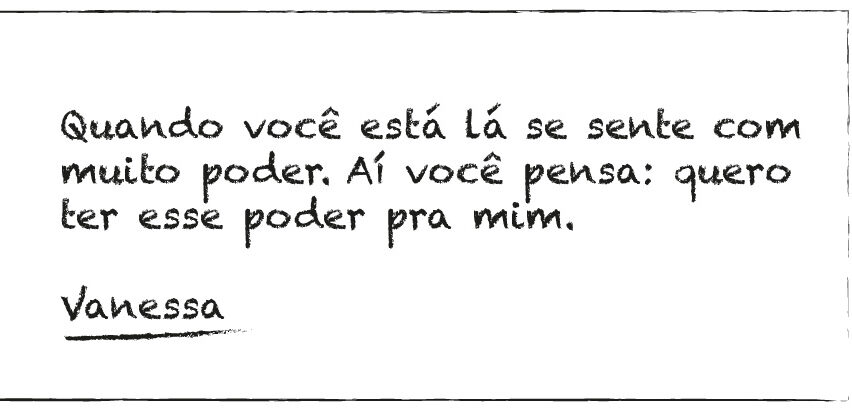
Uma pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), em 2018, apontou o tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil. O estudo, que analisa a inserção de jovens nessas dinâmicas, afirma que, de acordo com o decreto número 3.597, publicado em 2000, que regulamenta a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a utilização, o recrutamento e a oferta de adolescentes para atividades ilícitas, particularmente o tráfico de drogas, é uma das piores formas de trabalho. Com isso, o relatório aponta que no Brasil há uma ambiguidade jurídica-normativa, já que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê a aplicação de medidas socioeducativas ao jovem que for pego pela polícia na produção ou venda de drogas. “Na primeira perspectiva, a categoria ‘ato infracional’ é enfatizada, enquanto na segunda, o trabalho infantil ocupa papel central”, detalha o estudo. Mas, para compreender melhor essas perspectivas, é necessário observar as mudanças legislativas no que se refere ao direito de crianças e adolescentes nos últimos anos.
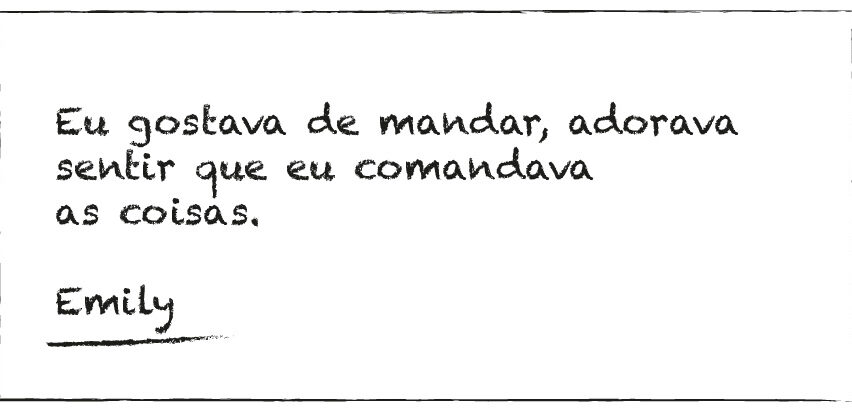
Promulgado em 1990, o ECA representa um marco legislativo, uma vez que no Estatuto o debate sobre violência e juventude deixa de ser realizado exclusivamente por juristas e médicos para se tornar responsabilidade de toda a sociedade civil. Com a legislação, os adolescentes deixaram de ser enquadrados na doutrina da situação irregular e passaram a ser submetidos à proteção integral. Isso significa dizer que os esforços do poder público passariam a se voltar à defesa dos direitos dessa parcela social por meio de medidas protetivas e socioeducativas. As primeiras se referem à saúde, educação, profissionalização, lazer, entre outros aspectos. As segundas, aplicadas a adolescentes autores de ato infracional, são executadas em meio aberto, geralmente com parcerias entre instituições do poder público e organizações da sociedade civil, ou com a privação de liberdade, executadas por instituições públicas ligadas ao poder Executivo nos Estados.
Segundo o ECA, o ato infracional é a conduta da criança e do adolescente que pode ser descrita como crime ou contravenção penal. A aplicação de medidas socioeducativas e não de penas está relacionada com a finalidade pedagógica e decorre do reconhecimento da condição peculiar de desenvolvimento pela qual passa o adolescente. Contudo, apesar das importantes mudanças consolidadas a partir do ECA e pelas lutas pela redemocratização, o que se revela, na prática, é que as instituições de privação de liberdade adotam práticas semelhantes às das unidades do sistema prisional. Segundo o estudo “Mapa do Encarceramento – Os Jovens do Brasil”, publicado em 2015, as unidades socioeducativas encarceram um perfil específico de adolescentes: “Apesar da existência do ECA, há uma tendência de recrudescimento das medidas punitivas sobre a população juvenil, nos mesmos moldes que ocorre atualmente com as políticas punitivas dirigidas aos adultos”.
De acordo com dados divulgados pelo Levantamento Anual do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), existem atualmente 24.803 jovens entre 12 e 21 anos cumprindo medidas socioeducativas de internação, regime de semiliberdade e internação provisória e 1.306 nas modalidades que incluem atendimento inicial, internação-sanção e medida protetiva, totalizando 26.109 jovens no sistema socioeducativo brasileiro. Destes, 25.063 são meninos e 1.046, meninas. Embora as jovens representem 4% do total, é importante observar os fatores que relacionam o gênero à punição juvenil. Uma das justificativas mais frequentes para a invisibilização das meninas é a proporção relativamente baixa de jovens privadas de liberdade no Brasil e no mundo. São Paulo é o estado que concentra a maior quantidade de jovens no sistema socioeducativo. Números da Fundação Casa, instituição vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania em que jovens cumprem medidas socioeducativas de privação de liberdade e semiliberdade, mostram que nos últimos anos – na esteira do que ocorre com as mulheres no sistema prisional – o ato infracional análogo ao tráfico de drogas é o que mais origina medidas socioeducativas de internação entre as meninas.
Em 2019, o número de internações registradas pela instituição foi de 3.082. Deste total, foram privadas de liberdade por tráfico de drogas 50,9% das meninas. Nos anos seguintes, sob o contexto da pandemia de Covid-19, foram registradas 2.471 internações, das quais 1.238 por participação no comércio ilícito de drogas, em 2020, 746 internações – destas, 50,6% por inserção no tráfico até setembro de 2021. Embora os registros não demonstrem um crescimento no número de internações de meninas, apontam para uma elevada permanência da privação de liberdade para as jovens. O perfil racial das jovens que cumprem medidas de internação por ato infracional análogo ao tráfico de drogas também chama a atenção: em um total de 1.569 internações pela inserção no tráfico em 2019, 985 foram meninas pretas e pardas – o que corresponde a 62,7%. Em 2020, o percentual de meninas pretas e pardas foi de 63,1% e em 2021, de 66,7%.
Tráfico como resistência
O caminhar lento, as costas levemente arqueadas e o corpo magro e retraído no interior do moletom lilás largo demonstravam alguma timidez e até certo desconforto de Vanessa, de 18 anos, para relatar aspectos de sua trajetória. A menina, que não tinha proximidade com o pai, compartilhava passagens de sua infância com a voz baixa. “Meu pai fazia muito mal para minha mãe emocionalmente. Foi uma coisa que me afetou muito porque eu tinha um carinho muito grande por ele”, diz. “Conforme fui crescendo, percebi que ele me tratava muito mal, que ele me xingava e não cuidava de mim.” Para Vanessa, o trabalho no tráfico era uma forma de enfrentar as condições precárias e os maus tratos sofridos na infância. “Quando eu usava drogas, esquecia de tudo que já tinha passado. Esquecia das vezes que eu apanhava, esquecia de tudo”, recorda ao dizer que até os 5 anos foi agredida pela diretora da escola que frequentou sem a mãe perceber. Janaína, de 17 anos, abusada sexualmente aos 11 por um vizinho, também encontrou, primeiro no consumo, depois no comércio de drogas, formas de esquecer momentos da infância. “Todos os problemas que eu tinha na minha vida eu descontava na droga”, afirma a jovem. que também afirma ter sido agredida pelo avô, que fazia uso abusivo do álcool.
A inserção no universo das drogas também está relacionada ao enfrentamento das opressões de gênero impostas por familiares, em abrigos ou instituições. Milena, de 15 anos, cabelos bem curtos e olhos claros, performava masculinidade e se relacionava com mulheres nas biqueiras. “Depois do fato que aconteceu com meu pai, comecei a ser assim, quem sou agora”, afirma a jovem ao se referir ao estupro sofrido pelo pai quando tinha 10 anos. A jovem lembra que o pai ficou anos preso por tráfico de drogas e a mãe morreu aos 32 anos por overdose. A caçula entre seis irmãos passou por pelo menos dois abrigos antes de passar pelas unidades da Fundação Casa. Para ela, porém, não interessavam as posições hierárquicas superiores na estrutura das lojas, outro nome dado às biqueiras. Estar no ponto de venda de drogas representava uma forma de estar em contato com os irmãos, de manter alguma liberdade e, sobretudo, os vínculos que lhes foram tirados desde a infância. Com uma trajetória semelhante, David, jovem transgênero que cumpriu medida de internação em uma unidade feminina, lembra ter fugido da casa da avó e dos abrigos pelos quais passou diversas vezes.
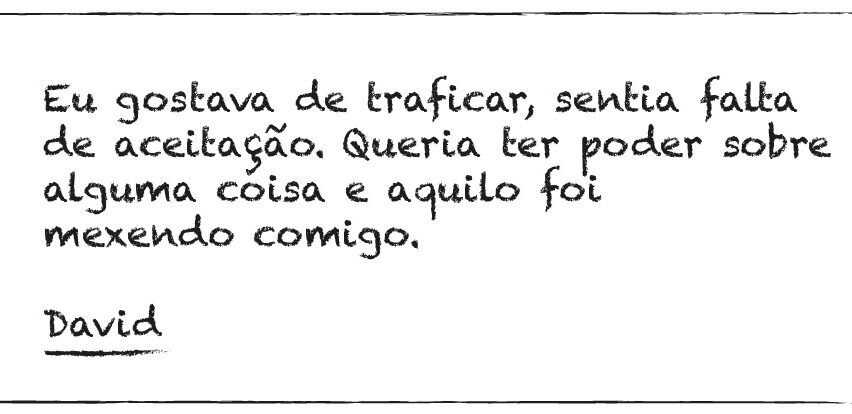
Ao deixar a casa da avó, David se lembra que recorreu a um amigo para começar a trabalhar no tráfico. Antes do primeiro dia na loja, porém, ele conta que passou em um cabelereiro para raspar o cabelo. “Eu gostava de traficar, sentia falta de aceitação. Queria ter poder sobre alguma coisa e aquilo foi mexendo comigo.” Para ele, trabalhar na biqueira foi um meio encontrado para resistir às normas e disciplinas impostas pela avó. “No começo, eu fui por luxo, fui porque minha avó me dava roupas de mulher e eu queria comprar roupas de homem”, afirma. Assim como Milena, David parece ter encontrado nas dinâmicas das drogas um espaço em que se sentia livre para performar sua identidade. De forma geral, a inserção das meninas nas atividades do tráfico pode ser considerada ainda uma forma de subversão ao controle social exercido sobre as mulheres. A fala de que “tráfico não é um lugar para mulheres” é constantemente repetida às jovens por seus parceiros nas biqueiras. Ana Bianca conta que chegou a ser questionada pelos colegas sobre sua capacidade de traficar. Mas, ao contrário dos meninos com quem trabalhava na biqueira, diz que nunca ficou devendo na hora de “fechar o caixa da loja”.
Moradora da zona leste de São Paulo, Estela, 21 anos, diz ter encontrado no trabalho do tráfico um meio de sustentar a mãe e os irmãos. Mas, mais do que isso, o convívio na biqueira parecia ser um refúgio da menina para escapar das brigas e ameaças que o pai fazia à mãe sob o efeito do álcool e das drogas. “Eu via muito a cena do meu pai pegar a faca e ela ficar escondida embaixo do colchão. Ele chegava bêbado em casa, quebrava bastante coisa”, lembra. Nos expedientes do tráfico, ela conta que começou com 16 anos. “Comecei por causa do dinheiro. Meus irmãos tinham idade pra trabalhar, mas não queriam saber. Os caras da loja falavam que eu ia ganhar muito. Eu fazia dois períodos, de manhã e da tarde para a noite. E, quando precisava, a noite também.” Apesar de cumprir funções e horários de acordo com as regras previstas pelos donos da biqueira, Estela percebia diferença no tratamento dado a ela e os parceiros com quem dividia o trabalho. “Eu me arriscava demais, não era um trabalho que gerente faz. O outro gerente era descontrolado e eles [donos] me usaram pra controlar ele”, diz. Assim, é possível observar que, além de desempenhar funções e cumprir regras com mais assiduidade, meninas enfrentam maior sobrecarga no comércio de drogas.
O início no corre
A relação das jovens com as drogas começa, muitas vezes, dentro de casa a partir de configurações familiares marcadas por conflitos. Aos 11 anos, Janaína deixou seu estado de origem, a Bahia, e se mudou para São Paulo para viver ao lado da mãe. Ao se lembrar da infância, a menina é reticente. Depois de alguns minutos em silêncio, ela diz que costumava apanhar do avô, que fazia uso abusivo de álcool. “Quando não tinha bebida, ele descontava em mim, era uma convivência muito ruim e eu levo isso comigo.” Em função das brigas, os vizinhos costumavam acionar o Conselho Tutelar. Com o pai, a menina havia perdido o contato desde a infância. “Ele está preso desde os meus seis anos. A última vez que vi ele, peguei na mão dele e falei: papai, promete que o senhor vai sair dessa vida?”, relata. Em São Paulo, a jovem conta que experimentou maconha pela primeira vez na escola. Mas foi aos 11 anos, após ter sido vítima de um abuso sexual que começou a usar cocaína. Por fim, o consumo e o trabalho no tráfico se intensificaram quando Janaína notou que a mãe era agredida pelo companheiro.
A vivência de Emily, de 17 anos, em atividades ilícitas começou aos 6 anos, quando praticava pequenos furtos junto com o irmão. A trajetória da jovem é marcada, em alguma medida, pela vida criminal dos pais: a mãe trabalhava em uma casa noturna no interior de São Paulo e foi presa por aliciamento de meninas na prostituição e o pai atua no tráfico. “Meu pai é do corre, né? Ele trafica, sempre traficou. Sempre tive ciência porque a gente ia visitar ele na cadeia, vivia naquele meio”, diz. Giuliana, de 21 anos, relata que conheceu as drogas por meio do núcleo familiar. “Meu pai usava na minha frente. Eu aprendi o que era droga com a mãe falando: ‘você fica trazendo essas coisas para dentro de casa’ e ele falando para os amigos que precisava guardar a droga.” O envolvimento em uma atividade criminal, segundo a pesquisa do Cebrap, afeta a qualidade dos vínculos, aproxima jovens da violência policial, dos equipamentos públicos de saúde e assistência social, gerando fissuras nas trajetórias familiares.
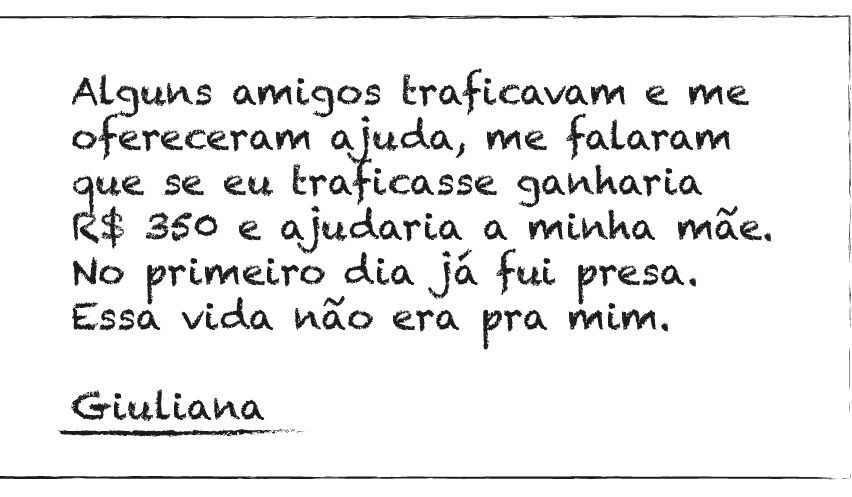
Embora também sejam citados como fatores de envolvimento com o tráfico, os relacionamentos afetivos são apenas a entrada para o universo das drogas. A busca por autonomia, liberdade e poder se constituem como principais motivadores. Vanessa conheceu o comércio de drogas por meio do namorado, mas era a busca pela gestão do ponto de vendas que despertava interesse nela. “Quando eu via ele fazendo as contagens, dando ordens, eu olhava e falava ‘nossa, que legal’, quero ter esse poder pra mim.” A busca financeira é outro fator presente na trajetória de meninas que atuam no tráfico. Rafaela fala cabisbaixa que “conseguiria provar” que não foi ela que cometeu o ato pelo qual foi levada à internação. A menina é enfática ao dizer que nunca usou drogas para consumo próprio. Com pai e irmão presos, ela diz que trabalhava em uma pizzaria e como entregadora de panfletos. A menina conta que a mãe sempre recusou sua ajuda com as despesas da casa, mas sabia que o valor de R$ 750 para pagar o aluguel era alto. “Alguns amigos traficavam e me ofereceram ajuda, me falaram que se eu traficasse ganharia R$ 350 e ajudaria a minha mãe. No primeiro dia já fui presa. Essa vida não era pra mim.”
“Quero trampar na loja”
Para algumas garotas, a inserção no tráfico de drogas ocorre dentro de casa a partir do envolvimento dos pais. Em outros casos, as oportunidades de trabalhar como traficante surgem por meio do contato com amigos com alguma atuação nas biqueiras. “Sempre comprava no mesmo lugar e um dia pensei ‘acho que quero começar a vender’. Cheguei para um amigo e disse ‘quero trampar aí na loja, tem como? Aí comecei a vender a peguei muita amizade.” As jovens, em geral, se referem à atividade como uma forma de trabalho. Isso porque, além de ser o meio pelo qual obtêm renda, as dinâmicas do tráfico se assemelham à organização de empresas em São Paulo. “Você está na função de vender alguma coisa. É a mesma coisa de quando você está numa farmácia ou numa loja, vende um produto e recebe. Aí tem o dinheiro que tem que dar para o patrão e o que fica com você”, resume Larissa. Além disso, o trabalho no tráfico oferece para as jovens possibilidades de uma rápida ascensão. Da primeira vez que vendeu drogas, o objetivo de Ana Carolina era comprar uma sandália. “Eu fui, vendi e gostei. Fui comprando minhas coisas, aí eu já saí da casa da minha mãe”, afirma. “É um trabalho sujo, mas o dinheiro vem da mesma maneira e às vezes até mais.”
Os salários pagos às jovens costumam variar conforme as regras estabelecidas em cada loja. Os valores vão de R$ 300 a R$ 1,5 mil por dia – algumas chegam a receber pagamentos semanais que atingem R$ 3,5 mil ou a média de R$ 1 mil com o transporte da droga em viagens. Os horários no trabalho ilícito também são variáveis. Algumas meninas chegam a traficar nos três turnos. Outras fazem intervalos nos expedientes de forma a conciliar com as obrigações pessoais e escolares. No entanto, à medida que alcançam posições de maior responsabilidade passam a abandonar as aulas. Emily trabalhava na biqueira das 19h às 7h e estudava no período da tarde. “Chegava em casa, dormia, acordava, comia, ia para a escola até uma 17h30. Quando mudou meu período e eu fui estudar de manhã fiquei na gerência. Aí não precisava ficar o tempo todo”, diz. Giuliana, de 21 anos, aprendera com o pai a ser uma assídua trabalhadora do tráfico. A garota trabalhava das 7h às 19h ou das 19h às 7h. “Já trabalhei nos dois horários e até virada. Normalmente, eu ia pra casa do gerente e pegava as drogas. Todos os dias eu ficava na loja, comecei a parar de estudar aos poucos, e quando fui ver estava na gerência. Era o máximo, todo mundo me conhecia.”
Com os ganhos do tráfico, Giuliana conseguiu ajudar a mãe com as despesas. “Minha mãe não tinha dinheiro para colocar comida dentro de casa. Era uma época que eu conseguia comprar coisas caras, ajudar sem ela perceber. Conseguia cuidar melhor dos meus cachorros e dos meus gatos. Pensava que não teria um emprego com 14 anos.” Antes de vender drogas, Giuliana trabalhava vendendo DVDs com o tio. Depois, tentou ser monitora de perua escolar, mas dois meses após terem descoberto sua idade foi demitida. “Não podiam contratar menor e eu precisava de dinheiro para viver.” Além da autonomia e das conquistas financeiras, o trabalho no tráfico oferece a meninos e meninas um espaço de pertencimento social. Nos pontos de comércio de drogas, as jovens encontram reciprocidade e uma proteção coletiva que dificilmente encontrariam em outros ambientes. Milena, que passou a infância transferida de abrigo para abrigo, buscava nas lojas um meio de conviver com os irmãos e de performar masculinidade. Nesses locais, majoritariamente ocupados pelo gênero masculino, a jovem se sentia livre para se relacionar com outras mulheres. “Eles veem a gente de cabelo cortado e já imaginam mais o lado masculino. Eu me sentia mais respeitada porque comigo só trabalhavam meninos. Eu não gostava de ficar perto de meninas, gostava mais de andar com meninos”, diz. Falas como essa, repetidas por outras jovens trabalhadoras do tráfico, demonstram a lógica da heteronormatividade nas biqueiras.
“Na lei do Comando é o certo pelo certo”
“Você sabe que todas as biqueiras de São Paulo são do Comando, né?”, questiona Ana Bianca como quem espera uma confirmação óbvia. Pesquisadores como a socióloga e professora da Universidade Federal do ABC, Camila Nunes Dias, e o professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, Gabriel Feltran, explicam que além de reconfigurar as dinâmicas criminais, o PCC (Primeiro Comando da Capital) passou a controlar as biqueiras para as quais fornece drogas bem como a população dessas regiões, que pode ou não fazer parte dessa rotina. Em 2003, com a expulsão dos líderes Geléião e Cesinha, uma reorganização do PCC trouxe novas lideranças e imprimiu uma nova forma de controle em áreas sob o domínio da organização, o que, segundo Dias, possibilitou uma expansão geográfica, econômica e política. No curso dessas mudança, cada vez mais adolescentes passaram a servir como mão de obra fácil e barata para o trabalho nos pontos de comércio de drogas. O contato das meninas que trabalham no tráfico com os irmãos, como são chamados os integrantes da facção, ocorre de três formas: alguns são pais batizados e filiados ao PCC, outros são donos de biqueiras amigos ou conhecidos das jovens ou ainda namorados. Em geral, a grande maioria das jovens conhece bem as regras da organização sobre os expedientes do tráfico. Uma das normas mais disseminadas nas biqueiras é a proibição do uso de drogas no curso do trabalho. “A lei do Comando não permite”, diz Ana Bianca.
O consumo por parte dos jovens pode atrapalhar o bom funcionamento da loja e até gerar prejuízo nas vendas. Disciplinada, Ana Bianca conta que o uso mais livre ocorria somente aos finais de semana. “Eu não podia cheirar, baforar, só fumar maconha. Trabalhava durante a semana e quando era fim de semana eu tomava uma bala e ficava suave”, diz. Muitos adolescentes, porém, não conseguem interromper ou controlar o consumo e acabam sofrendo represálias por isso. “Alguns cheiram o pó que tem e o da loja também, o que dá desfalque. Aí, eles têm que arrumar dinheiro no prazo ou trampar de graça nos próximos dias”, afirma Giuliana. “Um amigo que trampava na loja usava a dele e boa parte da droga do dono. Uma vez, os caras não quiseram mais dar prazo pra ele pagar e bateram nele com um pedaço de pau. Já vi muito menino da favela morrer por causa disso. No crime, não pode falhar.” Essa nova dinâmica do crime passou a ser mais frequente a partir de 2006, quando houve uma redução no número de rebeliões e homicídios no sistema prisional e surgiram modalidades mais racionais de execução para casos específicos. Para garantir o controle do cumprimento das regras, a facção criou os chamados “tribunais”, mecanismos para resolver conflitos e definir punições a infratores de regras. Por meio dessas atividades, comumente referidas pelas jovens como debates ou ideias, a maior parte das adolescentes conhece o regramento e a disciplina da organização criminal.
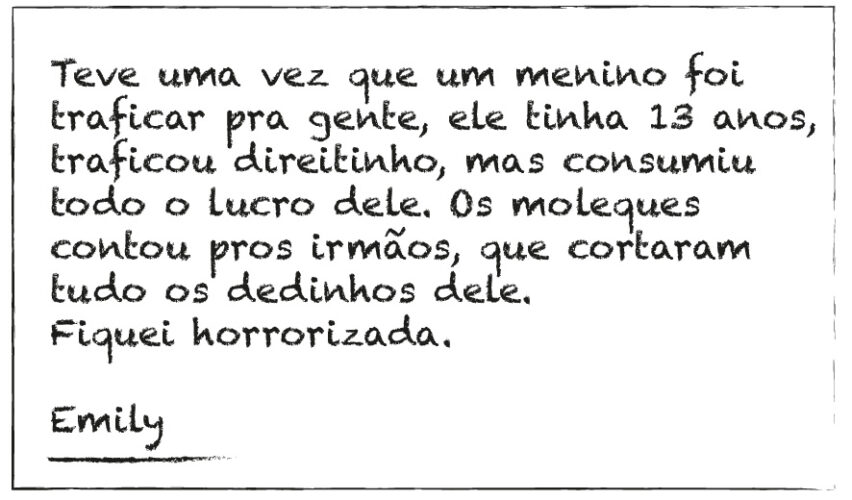
Muitas meninas participam de debates convidadas por colegas da biqueira ou parceiros. Mas grande parte das que assistem rechaçam a violência utilizada por parte de organização. Emily relata em choque uma das represálias aplicadas: “Teve uma vez que um menino foi traficar pra gente, ele tinha 13 anos, traficou direitinho, mas consumiu todo o lucro dele. Os moleques contou pros irmãos, que cortaram tudo os dedinhos dele. Fiquei horrorizada, incrédula, porque querendo ou não é uma criança”, afirma. A atividade é a principal razão pela qual as jovens dizem não ter vontade de fazer parte da facção. Além do uso da violência, motivos como pagamento de mensalidade e o entendimento dos membros como “criminosos” também estão entre as razões apontadas pelas adolescentes. “Toda vez que tinha cobrança nas ideias do Comando, eu nunca gostei de me envolver no mais profundo. Pra mim, era pegar as drogas, comprar, vender, acabou meu plantão e já era”, disse David.
O estreito contato com regramentos do PCC faz com que as jovens se exponham ainda mais às abordagens policiais. As meninas trabalhadoras do tráfico exercem funções cada vez mais arriscadas em busca do reconhecimento no mundo do crime, fazendo com que a experiência social com figuras consideradas “bandidos” tenha algum impacto na forma como se apresentam. Apesar disso, é importante ressaltar que ainda persiste entre as jovens que trabalham nos pontos de venda a ideia de que o “tráfico não é lugar de mulher”. Isso ocorre porque os espaços da criminalidade reproduzem o machismo presente em outras esferas da sociedade e a divisão sexual do trabalho, que destina certas tarefas às meninas, fazendo com que elas não se enxerguem como protagonistas – embora, na prática, executem funções de elevado risco.
Mais atuantes, mais visadas
Um dos principais aspectos que caracteriza a atuação das meninas no tráfico de drogas é a divisão do trabalho ilícito. Em outras esferas sociais, essa repartição destina as mulheres ao âmbito doméstico e reprodutivo e os homens ao público e produtivo. Essa divisão, que também se mostra evidente no mundo do crime, faz com que mulheres enfrentem dificuldades para exercer protagonismo e, simultaneamente, as coloca em posições de maior exposição às abordagens policiais. Grande parte das meninas que trabalham no tráfico de drogas acumulam funções de vapor [transporte], abastece [abastecimento], vigília de casas-bombas, imóveis em que são guardadas grandes quantidades de drogas para serem comercializadas, e gestão dos pontos para só depois chegar à gerência. “Se a mulher tem um filho, ela acaba tendo muita responsabilidade porque o tráfico nunca para. Ela tem que cuidar da casa, tudo essas coisas. Já o homem, não, o foco dele é só o tráfico”, diz Vanessa. Extremamente dedicada às funções que lhe eram atribuídas no tráfico, Larissa, de 17 anos, diz que fazia de tudo para conciliar tarefas como cuidar da casa e vender drogas. “Acordava 11h ou 12h, tomava banho, me arrumava e descia pra biqueira. Voltava umas 18h, tomava banho, me arrumava, descia de novo e ficava a madrugada toda. Era uma loucura muito grande pra uma pessoa só.”
Para explicar as funções que exercia na loja, Ana Carolina fala calma e serenamente. “Eu ia de ônibus ou de carro, toda arrumadinha pra eles não desconfiar de mim. Ia com uma bolsa bem linda e com uma mala com drogas dentro. Nunca fui abordada fazendo isso”, diz a menina ao contar que fazia o transporte das drogas entre cidades do interior de São Paulo. A jovem também tomava conta de um QG ou de uma casa bomba, local onde fica armazenada a droga. “Eles colocam mais mulher pra ficar do que homem porque ficava localizado num bairro mais chique, se colocasse no meio da comunidade ia dar muito na cara. Então, uma menina bem arrumada, uma mulher chique, faz os polícia não perceber que a mulher tá guardando droga lá. Mas se entrar um homem todo tatuado numa casa, eles percebem”, diz. Essa repartição de tarefas demonstra que meninas são normalmente alocadas em funções que requerem o estereótipo físico da beleza atribuído ao gênero feminino e com isso são mais expostas às situações de riscos. “Eu gostava de ficar dentro de casa embalando porque acho que é mais seguro, mas o B.O. é mais forte”, reconhece Ana Carolina.
Com isso, na medida em que assumem funções de risco acabam mais abordadas pela polícia e mais sujeitas a julgamentos morais, violências psicológicas e físicas. Meninas costumam ouvir de agentes de segurança que não devem atuar no crime por serem mulheres e de seus colegas das lojas, escutam que passam despercebidas pela polícia. Presa em maio de 2020 pela primeira vez, Ana Bianca foi acusada pelo policial de assumir a culpa do namorado. “Ele me falou: para de ser idiota, você é uma menina bonita, está assumindo B.O. de namorado seu.” Em outra abordagem, o mesmo policial disse para o colega da jovem: “dá um jeito na sua namorada porque da primeira vez ela assumiu B.O. seu, mas dessa vez nois vai matar ela.” Vanessa também foi questionada por policiais porque estava inserida no tráfico. “O delegado falava pra mim ‘você é uma menina bonita, tem estudo, curso, uma boa família, por que você fez isso?’” Outra impressão que vem abaixo é a ideia de que meninas sofrem menos abordagens truculentas por serem mulheres.
A percepção ainda faz parte do imaginário de meninos e meninas em função de um pensamento que ganhou força ao longo de décadas de que mulheres não tinham uma predisposição à criminalidade. Estela recorda que quando foi presa teve o almoço interrompido com uma metralhadora nas costas. “‘Levanta a loirinha’, eles disseram com a arma atrás de mim”, diz. David, por sua vez, vivia correndo da polícia. O garoto diz que chegou a traficar de cadeira de rodas após ter sido baleado por um policial. Na ocasião de sua audiência com juízes, o jovem relata que os agentes de segurança disseram ter encontrado drogas com ele durante a abordagem. Segundo sua versão, as drogas pertenciam a jovens de sua vizinhança. “Eles criaram uma situação, como se eu tivesse inventado uma história. Nisso, o juiz disse que não tinha o que fazer, era internação por tempo indeterminado.” Além da violência nas abordagens, não raro, as jovens chegam a ser sequestradas por algumas horas e são devolvidas somente após o pagamento de elevados valores em dinheiro. Levada por homens encapuzados em um carro, Giuliana lembra de ter sido colocada em uma sala com computadores com um saco na cabeça. “Eles resgataram uma conversa minha com o gerente da loja. Ele teve que dar R$ 12 mil, senão não me soltavam. Eles pegam a gente mesmo sabendo que não temos porra nenhuma.”
“E aí eu caí”
A punição deixa inúmeras marcas na vida das jovens. Não à toa, mesmo para as meninas que deixaram as unidades de internação há algum tempo, o momento em que são levadas à delegacia são os mais lembrados. Se nas abordagens da Polícia Militar as garotas sofrem ameaças, espancamentos, sequestros e até ameaças de morte, no encontro com a Polícia Civil enfrentam uma nova ruptura de vínculos familiares. Muitas meninas abordadas pela polícia em municípios do interior são levadas para unidades da capital, acarretando um processo ainda mais traumático em função da distância de suas cidades de origem. “Cheguei muito nervosa, mas foi passando uns dias, fui falando com uma pessoa, com outra e quando você vê, já está de boa”, afirma Vanessa, que teima em ajeitar o óculos que escorrega enquanto fala. As regras estabelecidas na Fundação Casa contribuem para “aniquilar o eu”. Ao chegar às unidades, as meninas deixam para trás cultura, hábitos, personalidade, vivacidade e senso liderança que as motivaram a ingressar no tráfico.
Nas unidades, um conjunto de regramentos, dispositivos de disciplina e controle e castigos as espera. Além dos horários rigidamente estabelecidos para as atividades que vão do início da manhã a noite, as jovens se deparam com o isolamento dos familiares. “Tirei sete meses. Meu mundo caiu. Fui presa em dezembro de 2016 e ia fazer 18 anos em fevereiro, todo mundo espera essa data. Passei o Natal e o Ano Novo lá e ainda ia passar meu aniversário, o aniversário da minha mãe. Foi muita opressão”, diz Estela. Outro ponto importante é a ruptura com o trabalho no tráfico e o início em cursos profissionalizantes. As atividades relatadas por algumas jovens, embora se diferenciem das oferecidas em anos anteriores, que destinavam mulheres ao âmbito privado, acabam direcionando as meninas a setores do comércio e serviço em funções comumente precarizadas. Com isso, ao deixarem as unidades, uma vez mais estarão submetidas a contextos de precariedades semelhantes aos que as fizeram seguir o caminho do tráfico.
Ainda que imersas em contextos de intensa opressão, as meninas relatam algumas formas de resistir à rotina do enclausuramento, entre elas a performatividade de gênero, o convívio social com outras jovens, visitas familiares e novos comportamento no decorrer da internação. “Me afundei nos livros, nas leituras e nos estudos. Gosto de ler um pouco de tudo, mas tem um livro que se chama ‘A guerra não declarada na visão de um favelado’ [escrito pelo rapper e compositor Carlos Eduardo Taddeo]. Gosto de livro assim, que fala sobre a sociedade em si, a vida na comunidade, os políticos corruptos”, diz Emily. As expressões, falas e atos de Milena, jovem lésbica que performa masculinidade, e David, jovem transgênero, são por si só formas de resistir a um espaço constituído por diversos símbolos estereotipados do feminino. Luísa, egressa do sistema socioeducativo, relata que durante a internação as meninas criam meios de se comunicarem como cartas e bilhetes e assim conseguem manter uma relação sem o intermédio de diretores e funcionários. A principal forma de enfrentar o período de internação, contudo, é por meio da lembrança de familiares. Até mesmo aquelas que haviam deixado suas casas encontraram no vínculo um caminho de tornar a internação menos perversa. “Minha mãe sempre dizia: ‘se você for presa, não espera uma visita minha’. Mas, nos últimos tempos, minha fé estava muito abalada e ela me ensinou a ter fé desde pequena. Só pensava nela, em ser forte”, lembra Giuliana.
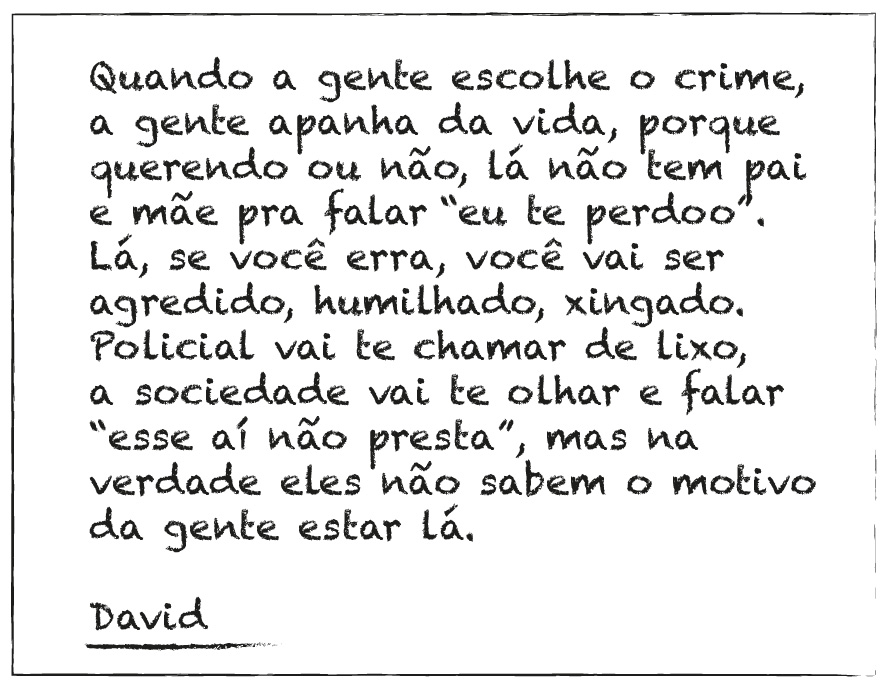
Karina, jovem que deixou uma das unidades de internação de São Paulo, não gosta de lembrar, tampouco falar sobre esse período. A resistência em abordar a experiência se repete em outras meninas privadas de liberdade. A tentativa é, na verdade, uma forma de esquecer o que se passou. Muitas jovens punidas pelo Estado preferem falar, por exemplo, sobre a volta aos estudos ou ao mercado de trabalho. Esse, inclusive, é um dos temas eleitos pelo sistema socioeducativo e prisional para mensurar o grau de “ressocialização” de uma pessoa egressa desses espaços. No caso das meninas, o caráter moralizador da reclusão opera para direcioná-las ao casamento ou à maternidade, como lugares de domesticidade. Após serem atravessadas pela prisão, essas jovens – que buscavam no tráfico liberdade, enfrentamento à precariedade, poder e autonomia – parecem ter os desejos mais uma vez aniquilados. David resume o sentimento de muitas jovens que passaram pelas unidades socioeducativas de internação: “Quando a gente escolhe o crime, a gente apanha da vida, porque querendo ou não, lá não tem pai e mãe pra falar ‘eu te perdoo’. Lá, se você erra, você vai ser agredido, humilhado, xingado. Policial vai te chamar de lixo, a sociedade vai te olhar e falar ‘esse aí não presta’, mas na verdade eles não sabem o motivo da gente estar lá.”
Como essa reportagem foi feita
A reportagem foi feita a partir da dissertação de mestrado “Queria trampar na loja, tem como? – As relações e percepções de meninas que cumpriram medidas de internação com as dinâmicas do tráfico de drogas em São Paulo”. O trabalho de pesquisa ocorreu entre os anos de 2019 e 2021 pelo programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC. Para o estudo, além de leituras de autores que se debruçaram sobre os temas do tráfico de drogas, dinâmicas criminais, gênero e juventude, foram realizadas entrevistas com o promotores e promotoras de Justiça da Infância e da Juventude da cidade de São Paulo e do Departamento de Execução da Infância e Juventude (Deij) de São Paulo, cujas funções, naquele momento, eram visitar unidades do sistema socioeducativo no estado. Também foi entrevistada a presidente do Instituto Mundo Aflora, Andrea Broglia Mendes, com o objetivo de se conhecer projetos destinados às meninas desenvolvidos em parceria com a Fundação Casa.
Foram realizadas ainda 16 entrevistas com meninas que cumpriram medidas socioeducativas de internação em unidades de privação de liberdade em São Paulo. Dessas, seis com jovens com mais de 18 anos que haviam deixado as unidades e estavam em liberdade no momento da entrevista e dez, com meninas entre 16 e 18 anos em duas unidades de privação de liberdade da Fundação Casa de São Paulo, com autorização da instituição. No primeiro grupo de entrevistas, das jovens em liberdade, foi possível observar como as meninas procuram afastar as marcas da internação e do trabalho no tráfico de drogas de suas trajetórias. Nas conversas, elas ressaltavam aspectos do presente, como trabalho e novas configurações familiares. Passado algum tempo, relatavam a experiência na venda de drogas, normalmente precedida do relato dramático em que foram apreendidas e levadas às delegacias. Além da rotina de trabalho no tráfico e das abordagens policiais, as jovens mencionaram de forma cautelosa o contato com o PCC. A maior parte das meninas em liberdade preferiu não detalhar as relações com o Comando, limitando-se a dizer que os membros da facção eram os donos das biqueiras.
Em relação às meninas que ainda cumpriam medidas socioeducativas de internação, as entrevistas ocorreram nas unidades, seguindo os protocolos de distanciamento e proteção estabelecidos em função da pandemia de Covid-19. A maior parte das jovens era falante e comunicativa, uma ou outra se mostrava mais fechada durante a conversa. A predisposição desse grupo de entrevistadas chamou a atenção em relação ao primeiro grupo. Acredita-se que isso ocorra por serem submetidas a cotidianos marcados por um conjunto de regras rígidas e mecanismos punitivos. Ana Bianca tinha os olhos reluzentes e fazia questão de explicar cada detalhe de sua trajetória. Janaína era agitada e suas pernas não pararam de se chacoalhar enquanto falava. Seguras, Emily e Larissa narravam com precisão cada uma de suas ações no tráfico, dentro de casa ou nas unidades de internação. David contava sua história não apenas por meio da fala, mas, principalmente, pelos gestos, performances e tons que usava para imprimir personalidade ao relato. Discretas, Milena e Vanessa falavam por meio do silêncio. As pausas, interrupções e olhares desviados demonstravam as dificuldades enfrentadas por elas na infância. Ana Carolina contava com envolvimento e entusiasmo os percursos que fazia entre as cidades de São Paulo para transportar as drogas. Rafaela e Bruna deixavam transparecer no tom de voz resignado as precariedades enfrentadas em suas histórias.
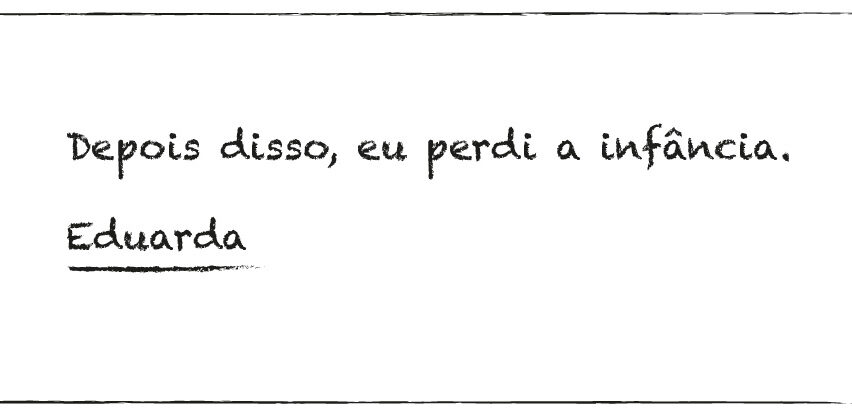
Os momentos de maior tensão nas entrevistas, sem dúvida, remetem aos relatos de estupros e violências sexuais contra as meninas. Sete jovens afirmaram terem sofrido maus tratos e violência sexual na infância. Além disso, 14 entrevistadas relataram terem vivenciado conflitos familiares, que vão de agressões por parte de pais que faziam uso abusivo de álcool ou drogas até tentativas de feminicídio. Essa conjunção indica alguns dos fatores que levam as jovens a buscarem no tráfico formas de resistir às opressões e precariedades sofridas dentro e fora de casa. Ao mesmo tempo, esse percurso fez com que as meninas sofressem uma ruptura abrupta com a infância – o que fica explícito em muitos depoimentos, como o de Eduarda, de 18 anos. “Eu tinha 10 anos quando conheci essa vida de roubar, usar droga e traficar. Foi um mundo onde eu entrei que é totalmente diferente de quando você é criança, que você aproveita, brinca, distrai a mente. Quando você entra pra esse lado é totalmente diferente, a forma de pensar, de agir, de falar. Depois disso, eu já perdi a infância”, afirma.
* Os nomes das entrevistas para a reportagem foram trocados com o objetivo de preservar a identidade e a segurança das jovens.
Uma Guerra Viciante é um projeto de jornalismo colaborativo e internacionalista sobre os paradoxos deixados por 50 anos da política de drogas na América Latina, do Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Dromómanos, Ponte Jornalismo (Brasil), Cerosetenta y Verdad Abierta (Colombia), El Faro (El Salvador), El Universal y Quinto Elemento Lab (México), IDL-Reporteros (Perú), Miami Herald / El Nuevo Herald (Estados Unidos) y Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
