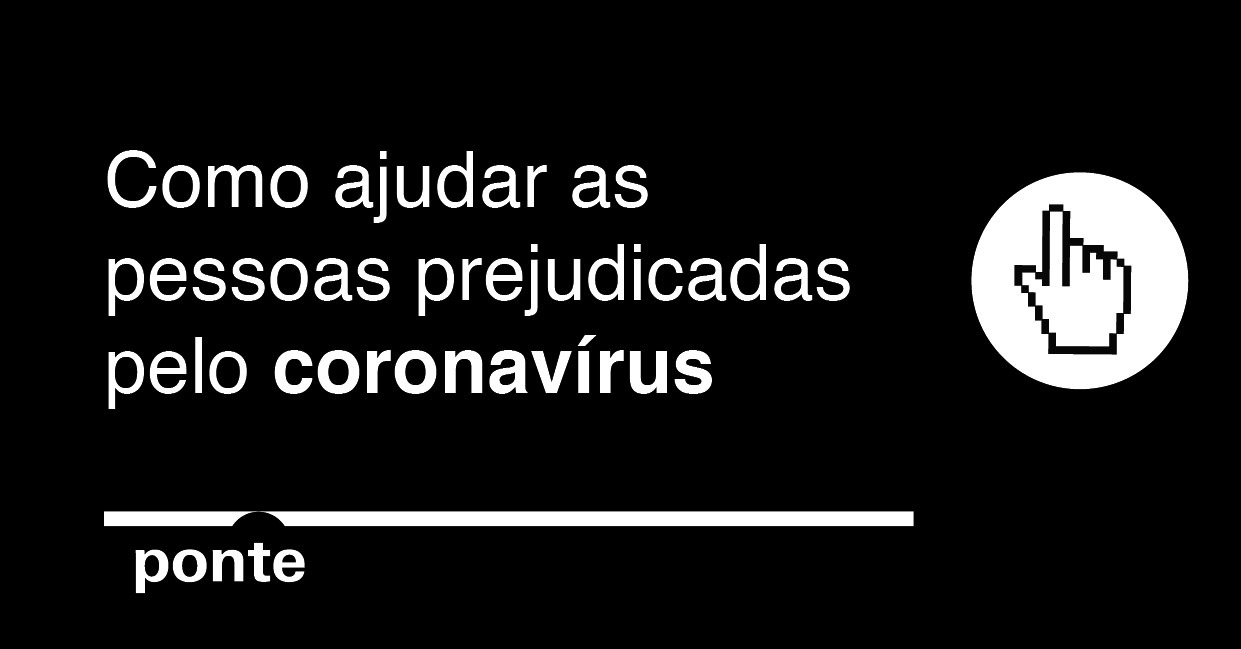Murilo Soares Rodrigues tinha 12 anos quando desapareceu; para promotora, é uma violência para a família pedir a confirmação da morte sem o corpo

O sonho de Murilo Soares Rodrigues, 12 anos, era ser jogador de futebol. Torcedor fanático do Vila Velha F. C., o menino fez a mãe se apaixonar pela cor vermelha do uniforme do time. Mas, em abril de 2005, os sonhos de Murilo foram interrompidos: ele desapareceu após um abordagem policial em Aparecida de Goiânia, cidade vizinha de Goiânia, capital de Goiás.
Depois de 15 anos sem saber o paradeiro do filho, que havia saído no dia 21 de abril para ver o pai, a cerca de 10 km da casa onde morava, Maria das Graças Soares, 47, conseguiu na Justiça um documento que embora seja necessário, nunca quis receber: o atestado de óbito de Murilo.
Leia também: Maria das Graças busca Justiça há 14 anos pelo filho desaparecido após abordagem em GO
“Foi um choque, eu nunca esperava que isso pudesse acontecer, emitir uma certidão de óbito sem um corpo. Depois que o meu filho mais velho se casou, eu decidir sair da minha casa. Aí fui procurar para fazer a escritura, mas, quando cheguei lá, me falaram que os meus filhos eram herdeiros e que eu não poderia fazer nada sem eles”, contou Maria das Graças à Ponte.
“Eu cheguei na promotora e ela falou que eu precisava de um laudo de pessoas ausentes para vender a casa e sair daqui. Um dia chegou a intimação para falar com o juiz, que me pediu três testemunhas. Então ele decidiu que não poderia ser o laudo de pessoas ausentes e, sim, a certidão de óbito”, lamenta a mãe.

Murilo estava na sétima série, mas eram as aulas de futebol que fascinavam o menino, sempre o primeiro a chegar na Escolinha de Futebol de Gramados.
“Eu tenho uma bandeirinha aqui do último jogo que ele foi. Sempre que não dava para ir no estádio, ele assistia pela televisão. Ele sempre pedia bola de presente de aniversário. A gente não tinha condições de comprar muitas coisas, nem de fazer festa, mas ele sempre pedia uma chuteira. Ele não tirava o uniforme do treino”, relembra Maria das Graças.

Ele deveria retornar da casa do pai no dia 22 de abril de 2005. O pai de Murilo pediu que um vizinho, o servente de pedreiro Paulo Sérgio Pereira Rodrigues, levasse o filho até a casa da mãe, em seu carro.
Eram por volta das 20 horas daquela sexta quando o carro em que os dois estavam foi abordado por dois veículos da Rotam (Rondas Ostensivas Metropolitanas Táticas), grupo inspirado na Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), a tropa mais letal da PM paulista, na rua Tapajós, na Vila Brasília. Após revista, eles saíram do local no próprio carro, escoltado pelas viaturas, com um policial no banco de trás. Todas as informações constam nos autos do processo.
No dia seguinte, o carro foi encontrado carbonizado no Setor Alto do Vale, em Goiânia, mais de 20 km do local da abordagem. Murilo e Paulo nunca mais foram vistos. A ação penal contra os oito policiais que participaram da abordagem, porém, foi arquivada. A alegação era que faltavam provas para condená-los.
Leia também: ‘Acabou a esperança de achar ele vivo’, diz pai de Cadu, desaparecido há mais de 2 meses
Na sentença, o juiz Társio Ricardo de Oliveira Freitas, da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Aparecida de Goiânia, acolheu o parecer do Ministério Público de Goiás que declarou que “inexiste dúvidas acerca do falecimento de Murilo”.
“Eu queria, pelo menos, achar a ossada dele para enterrar. Eu fui no IML [Instituto Médico Legal] e me informaram que tem 300 ossadas, incluindo de crianças, para serem identificadas. Levei tudo o que eu tinha e tiraram o meu sangue. Só agora eles correram atrás disso”, declara a matriarca.
Embora o atestado de óbito seja necessário para fins burocráticos, a promotora Eliana Vendramini, coordenadora do Plid (Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos) do Ministério Público de São Paulo, aponta que essa exigência é quase uma segunda violência. Para ela, quando um parente precisa pedir a morte presumida (sem corpo) eles sentem que estão declarando uma morte sem um sepultamento.
O documento de morte presumida é necessário para muitas questões, como previdência, transferência de guarda de um filho, retirada de valores bancários ou venda de imóveis. O boletim de ocorrências, detalha Vendramini, não é aceito nessas situações.
“Quando é com o Estado é pior ainda, porque você confiava, via de regra. Hoje já temos vários ‘senões’, ainda mais com os mais vulneráveis, mas você confiava, você não obteve respostas e o mesmo Estado está te pedindo mais providências, que é a declaração da morte”, pondera a promotora.
Para Vendramini, nesses casos, o Estado deveria ser responsável pela ação penal de morte presumida, não os familiares. “Por que o Estado, que não obteve respostas, não poderia ser o autor dessa ação? Na docência, eu sempre tento criar soluções e não ficar só com os problemas. Essa ação deveria ficar a cargo do Estado quando ele é responsável pela ausência de respostas”, pontua.
“O resultado pode ser o mesmo, sair a certidão de óbito, mas é diferente psicologicamente. Estamos lidando com seres humanos e vítimas. E eu gosto de deixar isso claro: que os familiares são vítimas também. Ela [a família] não pode ser nenhuma protagonista de uma ação que corrobore a omissão do Estado. Psicologicamente é muito forte e é uma parte importante do drama do desaparecimento”, afirma Vendramini.
A promotora lembra que o Brasil é signatário de duas convenções internacionais sobre desaparecimentos forçados: Convenção Interamericana de Combate ao Desaparecimento Forçado e Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado da ONU (Organização das Nações Unidas).
Casos como o de Murilo, afirma Vendramini, mostram como a tipificação do desaparecimento forçado no Código Penal brasileiro é importante. “Para mim, o desaparecimento é o meio de um crime mais grave. Se a gente tipificasse casos como esse teríamos solução dentro do mesmo Ministério Público que não achou os indícios de um crime, que é o homicídio”, argumenta.
“Tipificar acaba o silêncio. O fato de a gente não dar resposta no meio do caminho é justamente porque não é crime. Se fosse, com a pena mais alta do Código Penal, que são 30 anos, parava a brincadeira”, explica a promotora.
Para Vendramini, os mecanismos de maldade usados nos desaparecimentos forçados foram aprendidos na ditadura. “Estamos até hoje procurando o Cadu [desaparecido em Jundiaí, interior de São Paulo, depois de ser abordado pela Polícia Militar em 27 de dezembro de 2019]. O inquérito está seguindo, tem uma advogada, tem um promotor olhando, mas não se arranca uma prova dos autos quando alguém já se preparou para sumir com a prova. É difícil fazer um júri sem corpo”, explica.
Outro caso bastante acompanhado pela Ponte é o de Davi Fiuza, filho de Rute, que desapareceu, aos 16 anos, após abordagem policial em Salvador, no dia 24 de outubro de 2014. A investigação do caso demorou quase 4 anos para ser concluída e apontou que 17 PMs participaram do crime. O Ministério Público denunciou sete agentes pelo sumiço, mas não pelo homicídio de Davi.
“Esses casos nos ensinam que desaparecer com alguém tem que ser crime. É triste, eu não sou a favor da criminalização porque não acho que ela resolve tudo, estamos falando da vida humana e de mecanismos de maldade”, defende.
Leia também: Davi Fiuza, 16 anos, foi morto por 17 policiais militares, conclui polícia baiana
Parar uma busca por um desaparecimento forçado, afirma Vendramini, é infringir a lei nº 13.812, de 16 de março de 2019. “Eu sinto, estudando isso, que há interesse em não tipificar o desparecimento porque os mais graves e indecifráveis casos de desaparecimento forçado estão na mão do Estado. Isso não é aceitável. Essas mães sentem falta de confrontar essas pessoas. Está na lei: desaparecimento não se para de investigar. A dona Maria quer isso. Ela precisa sentir que isso não virou número”, conclui Vendramini.