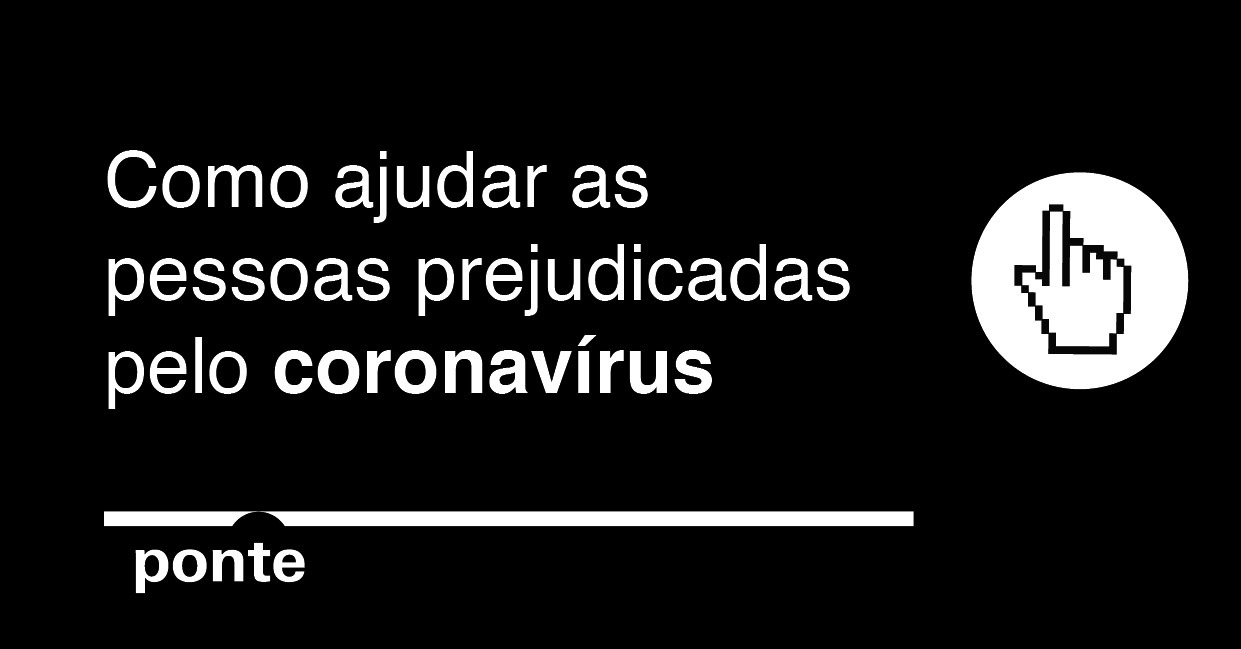Chacina de quatro jovens negros no Dique do Caxeta, em São Vicente (SP), completa seis meses sem punição; “perdi meu bem mais precioso”, lamenta mãe de Bruno Ricardo

Há seis meses, a agricultora Arlete Rufina, 34 anos, perdeu o seu bem mais precioso. É assim que ela define a assassinato do filho mais velho, Bruno Ricardo Rufino Benicio, 18 anos. Até hoje, os PMs envolvidos na morte do jovem não foram denunciados.
Bruno Ricardo foi morto em 8 de novembro de 2019, no Complexo do Dique, periferia de São Vicente, no litoral sul de São Paulo. O Complexo do Dique é composto pelo Dique do Caxeta e pelo Dique do Piçarro, interligados por um beco estreito.

Eram por volta das 16h30 daquela sexta-feira de novembro, quando policiais do 2º Baep (Batalhões de Ações Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo), que é conhecido por ter padrão de atuação da Rota, a tropa mais letal da policia paulista, mataram o jovem.
Além de Bruno Ricardo, outras três vidas foram perdidas na mesma tarde: os adolescentes Melquesedeque Romualdo dos Santos e Bruno Gabriel Rodrigues dos Santos, ambos de 16 anos, e Josemar Santos de Oliveira, 35. Todos eram homens negros.
Um vídeo divulgado pela Ponte mostra o momento em que um dos jovens, apontado pelas testemunhas como Melquesedeque, é jogado no córrego do Dique do Piçarro por PMs do Baep.
Leia também: ‘Quem postar vídeo vai morrer’, diz PM a testemunhas de chacina em S. Vicente
Bruno, assim como sua mãe, é natural de Jussara, cidade a 434 km de Salvador, capital da Bahia. Ele só deixou de morar na cidade que nasceu para trabalhar como empacotador em Goiás, uma oportunidade de emprego que conquistou assim que completou 18 anos e, assim, pode sustentar a sua família com mais tranquilidade.
Apesar disso, a saudade apertou e o jovem decidiu voltar para Jussara, para rever a esposa Nagila Liberato Pereira, 18 anos, e seu filho de 4. Lá, montou um salão de cabeleireiro, que virou seu novo emprego.

A pedido da mãe, viajou para São Vicente em outubro de 2019. A ideia era que Bruno passasse o aniversário da mãe, em 27 de outubro, e fosse embora pouco depois de completar 19 anos, em 17 de novembro.
“Ele tinha medo de ir para o Dique [do Caxeta], porque via na televisão tudo o que acontecia e porque a irmã dele contava as histórias. A maior vontade dele era me trazer de volta para a Bahia. Ele falava que lá não era lugar para se morar”, desabafa dona Arlete.

Ações violentas da Polícia Militar no Dique do Caxeta e no Dique do Piçarro, conta Alerte, sempre foram frequentes. “Eu mesma, no barraco que morei por dois anos, já acordei pela manhã com eles quebrando lá, colocando arma na nossa cara. Eles não respeitam ninguém, a verdade é essa. Quem vive lá, vive amedrontado”, relembra.
Leia também: Em vídeo, PMs jogam pessoa na água após tiro, em São Vicente (SP)
Depois da morte do primogênito, Arlete voltou para a Bahia, para sepultar Bruno Ricardo, e nunca mais voltou para São Vicente. “Eu não tive mais coragem de voltar depois dessa barbárie que aconteceu. Por medo”, lamenta.
Além da vida de seu filho, Alerte conta que a ação da PM naquela tarde de novembro destruiu a sua família. “Eles [PMs] não respeitaram ninguém, nem eu, nem o pai. Tentamos chegar perto dele, ver como ele estava, e colocaram fuzil na nossa cara. Eles não davam informação nenhuma. O semblante deles era de felicidade quando aconteceu isso”, relata.
“Eles só foram chamar o resgate muito tempo depois. Só no Hospital de São Vicente eu fui ter notícias do meu filho. Eles deixaram os meninos morrer sem socorro. Se tivessem deixado a gente pedir ajuda, teria salvado eles”, acredita.
Ainda muito abalada, Nagila vive em Jussara com o filho que teve com Bruno Ricardo ainda aos 14 anos e lamentou, à Ponte, a morte do marido. “Foi um choque saber da morte dele. Estávamos juntos há 5 anos, criávamos o nosso filho juntos e fomos vivendo bem até esse momento… que foi bem difícil”, disse com uma pausa demorada para tentar segurar o choro. “Só esperamos justiça”, completou.
Delegado pediu para arquivar caso
Apesar de o laudo pericial apontar que os disparos aconteceram pelas costas, na cabeça e no peito das quatro vítimas, o delegado Luiz Ricardo de Lara Dias Junior solicitou à Justiça de São Paulo, em 11 de fevereiro, o arquivamento do caso por entender que as provas coletadas e testemunhos foram “suficientes para o reconhecimento da legítima ação do Estado”.
O inquérito foi aberto em 12 de novembro e, após ser concluído, foi remetido à Justiça e está parado na 2ª Vara Criminal da Comarca de São Vicente. O Ministério Público Estadual foi intimado a se pronunciar e, em fevereiro de 2020, o promotor Marcelo Perez Locatelli pediu detalhes do andamento do Inquérito Policial Militar.
Nos últimos meses, a promotoria solicitou outras documentações aos policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Santos, que cuida das investigações do caso, inclusive anexo de laudos para apurar a ação dos PMs.
Agora, cabe ao MP denunciar ou não os PMs que participaram da ação: cabo José Roberto de Andrade, tenente Valter Cardoso da Costa, soldado Matheus Leite Santos, cabo Paulo de Oliveira Santos, Alessandro da Silva, sargento José Luiz Vieira Junior, soldado David Miramoto Gonçalves Correa.
Até a tarde desta quinta-feira (28/5), só os policiais militares envolvidos na ação foram ouvidos. Testemunhas e familiares não foram chamados para depor na fase de inquérito. A Ponte teve acesso aos “Termos de Declaração” e confirmou que, de fato, apenas os PMs foram ouvidos.
Em 12 de maio de 2020, o advogado criminalista Rui Elizeu de Matos Pereira entrou oficialmente no caso, para defender os interesses dos familiares das vítimas e, em representação, criticou a investigação policial, a tese de legítima defesa, a ausência de laudos e chamou atenção para o fato de que testemunhas não tinham sido ouvidas.
“Não se determinou a necessária oitiva dos familiares das vítimas, os quais sequer foram informados do que até então se apurou, experimentando estes uma amarga sensação de impunidade, com o fato precipitando-se no fosso do esquecimento. A necessária e relevante oitiva do adolescente sobrevivente, suposto infrator, não foi procedida nos autos”, pontua o defensor, em um trecho da petição.
O promotor André Luiz dos Santos assumiu o caso e solicitou vídeos da ação e o exame residuográfico (para detectar pólvora nas mãos) das vítimas. A perita criminal Camila Marinho Mano afirmou que não foi possível identificar “o que foi jogado no córrego” e a baixa resolução prejudicou afirmar se é uma pessoa e se ela estava viva. Ela afirma apenas que algo foi jogado no córrego.
No boletim de ocorrência, aberto três horas depois da chacina, os PMs afirmaram que agiram em legítima defesa. O documento foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa (excludente de ilicitude), apreensão de drogas e armas de fogo.
Segundo informações dos policiais do 2º Baep, a operação visava “combater o tráfico de entorpecentes na região entre o Dique do Piçarro e o Dique do Caxeta”. Os policiais afirmam que foram surpreendidos, no beco do Dique do Caxeta, por oito ou dez pessoas armadas em um dos diques e doze pessoas armadas em outro, que dispararam contra os PMs. Só então, afirmam os policiais, eles atiraram de volta.

No Dique do Piçarro, segundo o registro da ocorrência, os PMs tenente Valter Cardoso, cabo José Andrade e soldado Mateus Santos efetuaram, juntos, 28 disparos. Do outro lado, no Dique do Caxeta, o sargento José Luiz Vieira, Alessandro da Silva, Paulo de Oliveira Santos e David Miratomo efetuaram 23 disparos.
Os policiais que participaram da ação que foi registrada em vídeo, tenente Cardoso e cabo Andrade, afirmam que “tentaram retirar [uma das vítimas] da água”, mas ele “escorregou da mão dos policiais devido à inclinação do barranco”. As imagens, porém, mostram quando eles jogam uma pessoa na água. As quatro vítimas morreram no local.
Em 28 de maio de 2020, o juiz Luís Guilherme Vaz de Lima Cardinale, pediu sigilo do processo, cobrando mais uma vez a Polícia Militar de enviar o IPM. O promotor do caso já havia solicitado o envio do documento em 30 de janeiro.
À Ponte, o advogado Rui Elizeu criticou a demora para que os policiais fossem denunciados pelo MP. “Os laudos já demonstram elementos suficientes para denunciar os caras, já que apresentam lesões de bala próprias de execução, não são lesões de troca de tiro”, aponta.
Moradores relataram ameaças depois de chacina
Em novembro de 2019, quatro dias depois da chacina, a Ponte esteve no Complexo do Dique. Na ocasião, mesmo com medo, os moradores relataram como a ação aconteceu.
“A PM foi matando todo mundo que vinha pela frente. A população começou a gritar para eles pararem, nisso, eles jogaram uma bomba que fez um barulhão. Eles davam tiros em sequência, sem se importar se tinha criança”, relatou uma moradora de 22 anos.
Na tarde do dia 8 de novembro, o Dique do Caxeta estava cheio de crianças e outros moradores quando a ação começou. Muitos correram pelo beco que interliga o local ao Dique do Piçarro, como relatou a irmã de uma das vítimas, Josemar dos Santos, conhecido no Dique como Jhow.
“Na hora que eu cheguei lá, tentei entrar nesse beco, mas tava cheio de polícia. Pedi autorização para entrar e eles apontaram as armas falando que iriam atirar. Demos a volta, do outro beco, foi quando eu vi o meu irmão no chão”, relembrou.
“Nessa hora, iam executar o outro menino, que sobreviveu, mas começaram a gritar. Eles falaram que o meu irmão tava vivo, mas ele não tava mais vivo, eles já tinham executado ele. Os PMs atiraram para matar, meu irmão tava com uma bala na cabeça que veio de lado. Eles apontaram e atiraram”, denunciou a irmã.
A companheira de Jhow denunciou à Ponte que a polícia havia voltado o Dique para ameaçar os moradores. “Na mesma noite, eles [PMs] vieram no bar da tia e quebraram tudo. Perguntaram se a imprensa ia vir aqui e quem falasse eles viriam matar“, relatou, à época.
Outro lado
A reportagem procurou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo para questionar o motivo para a solicitação de arquivamento do delegado Luiz Ricardo de Lara Dias Junior. Em nota, enviada pela assessoria terceirizada InPress, a SSP informou que “o caso foi investigado pela DIG de Santos, sendo relatado à Justiça desde fevereiro, após a análise de laudos e depoimentos de testemunhas”.
“A Polícia Militar instaurou IPM para apurar os fatos. Após solicitação de mais prazo ao Tribunal de Justiça Militar, também em fevereiro, a Corregedoria da Instituição solicitou novos laudos, que estão em elaboração, e aguarda os resultados”, afirmou a pasta, em nota.
A Ponte solicitou também entrevista com os PMs cabo José Roberto de Andrade, tenente Valter Cardoso da Costa, soldado Matheus Leite Santos, cabo Paulo de Oliveira Santos, Alessandro da Silva, sargento José Luiz Vieira Junior, soldado David Miramoto Gonçalves Correa à SSP e à assessoria da Polícia Militar, mas o pedido não foi respondido.
A reportagem também procurou o Ministério Público de São Paulo para questionar sobre o tempo decorrido da conclusão do inquérito até agora e a ausência de manifestação do promotor de Justiça Andé Luiz dos Santos.
Em nota, a assessoria afirma que Santos explicou “que ainda está aguardando laudos e quer ter acesso à investigação da corregedoria da PM. Com tudo em mãos, pode-se definir uma de três alternativas: denúncia; arquivamento; ou realização de mais diligências”.