Para Pedro Che, dos Policiais Antifascismo do RN, pedir o fim da PM é equivocado e berço da violência é a guerra às drogas: “A ignorância é campo fértil para o desrespeito”

Dá para ser policial e lutar contra o fascismo? Durante a onda de manifestações intituladas antifascistas, que começaram com o levante dos EUA contra a morte de George Floyd, essa pergunta ganhou as redes sociais. Mark Bray, autor do “Antifa – O Manual Antifascista”, disse que não. Mas um grupo de 1.500 policiais espalhados pelo Brasil afirma que sim.
Quem fala sobre o assunto à Ponte é o policial Pedro Paulo Chaves, o Pedro Che, coordenador do Movimento Policiais Antifascismo do Rio Grande do Norte. Pedro é historiador desde 2009 e policial civil desde 2012. No estado, afirma Pedro, eles já são mais de 100 policiais, entre militares e civis.
Leia também: Antifas: quem são e por que lutam
Pedro conta que os Policiais Antifascismo estão presentes em 20 estados brasileiros, mas não atuam com uma agenda plenamente unificada: cada regional tem a sua autonomia. As pautas, claro, apesar das particularidades, são comuns: repensar o modelo de segurança pública, desmilitarização e mudanças estruturais das polícias.
O policial critica a frase que pede o “fim da Polícia Militar” porque ela foca no trabalhador os problemas estruturais da corporação. “Pensando nas estruturas, ele [o PM] também é explorado. Quando você fala que quer o fim da Polícia Militar, você está falando para aquele cara, sem medir a individualidade, que ele é o inimigo, que é alguém que deve perder o emprego. Então batemos muito no fim da militarização, pelo bem do policial também”, explica.
Pedro Che afirma que a guerra às drogas cria um ciclo de violência onde todos saem perdendo. “A polícia que mais mata é a que mais morre. Não só morre, como adoece também. Temos um índice imenso de suicídio entre as polícias”, aponta, destacando que a ideia de que há um inimigo a ser combatido também reforça a violência baseada no conceito de que há pessoas elimináveis. “A ignorância é um campo fértil para o desrespeito”, afirma.
Confira a entrevista:
Ponte – Como é ser policial e não apoiar o fascismo?
Pedro Che – É uma tarefa inglória. Não que essa realidade seja diferente do que era há 10, 20 anos. A grande questão é que hoje temos uma realidade social que distorcem tudo, acreditam que você ser democrático é ser subversivo. Isso é o que está acontecendo com outros grupos antifas, seja torcedor, professor ou policial, que estão se levantando contra esses perigos contra a democracia. Acabamos sendo tachados como terroristas, como miliciano. O que é absurdo. Aqui no Rio Grande do Norte a minha foto circulou em mais de 40 perfis, não robôs, pessoas mesmo, falando que eu era miliciano antifascista. Isso foi chato, mas seguimos de cabeça erguida. Já era muito complicado dentro das instituições e agora encontramos um ambiente social que também torna isso complicado.
Ponte – Como é dentro das instituições?
Pedro – As dificuldades são históricas. Os policiais do campo progressistas se lamentam, porque, apesar do movimento, apesar de governos de esquerda em alguns lugares do país, principalmente aqui no Nordeste, temos um alinhamento de direita nas instituições de segurança pública em todos os estados. Não existe exceção. E as pessoas se frustram, ficam questionando para que as nossas lutas servem. Tivemos uma vitória magnifica que foi quebrar o absolutismo. Antes só tinha uma forma de se pensar na polícia, as outras pessoas eram excluídas, sofriam repressões. Hoje acabamos com isso. Não só acabamos com uma forma única de pensamento, embora estejamos longe de ser maioritários, mas somos referência.
Leia também: Homens de farda não choram
Tudo que acontece, de justo ou injusto, relacionado ou não, os próprios caras que não são antifascistas dentro da polícia referenciam a gente. “Quero ver o que os antifascistas vão falar sobre isso”. Aqui temos um movimento muito grande, somos conhecidos em todas as viaturas que circulam no RN. Se você perguntar, eles vão xingar, vão falar. Temos um lugar de fala, por mais mal visto, e quebramos esse discurso de “bandido bom é bandido morto”. Temos uma outra construção e eles são obrigados a lidar com ela.
Ponte – Como os policiais antifascismo enxergam as políticas de segurança pública? Como uma polícia deveria ser?
Pedro – Essa política, que existe hoje, se baseia em uma guerra às drogas. A questão do tráfico de drogas, nesse contexto, é central para a criminalidade. Para nós, essa questão de as drogas serem tratadas pelas polícias é o que ocasiona todo o ciclo de violência. E esse ciclo de violência retorna para o próprio policial. A polícia que mais mata é a que mais morre. Não só morre, como adoece também. Temos um índice imenso de suicídio entre as polícias. A quantidade de policiais baixados por questões de transtornos mentais dentro da PM gira em torno de 15%. Fora os outros que não foram diagnosticados e que acabam abusando de bebidas e vícios. Muitos vivem na tortura diária do silêncio. Essa política, seja a guerra às drogas, seja a guerra contra a criminalidade, é uma guerra que se volta contra o policial. É uma questão complicada. Quando você fala que é a favor de uma regulamentação, uma liberação, seja qual for o termo, você é visto como um membro de uma associação criminosa. Você é visto como um comparsa do crime, como se a gente fosse beneficiar o tráfico. Mas a nossa ideia é justamente o contrário. Acreditamos que é a partir de uma legalização é que conseguiremos quebrar com esse mercado paralelo. Assim, podemos recolocar esses jovens para outros ramos e colocar a polícia para trabalhar efetivamente onde pode dar resultado.
Leia também: Homicídios caem para menor índice em 11 anos, mas polícia nunca matou tanto
Os resultados operacionais, enquanto polícia, são baixos. O índice de resolução de homicídios no Brasil gira em torno de 8%. No Chile é de 87%, Alemanha mais de 90% e Japão praticamente 100%. Veja, somos o país que mais mata, mas que tem uma impunidade absurda. A gente acaba criminalizando algo que, por si só, não mata. A maconha não mata, mas você criminalizar isso mata muitos jovens. Você tiraria isso das costas do policial e teríamos uma redução muito expressiva de mortes.
Ponte – Vocês são a favor da desmilitarização das polícias? Estão comparando muito o Brasil com os EUA, mas lá as polícias não são militarizadas. Aqui toda semana temos um George Floyd…
Pedro – Os números de violência aqui no Brasil são em virtude de uma lógica de guerra em que pessoas são inimigas e elas são elimináveis. E essa doutrina é muito relacionada à militarização das polícias. Só temos uma Polícia Militar, que tem grande efetivo, que mais aparece, que tem um imaginário social na cabeça das pessoas. Eu, antes de entrar na Polícia Civil, tinha muito mais contato visual com a Polícia Militar. Isso serve para a Polícia Federal. A PM é a grande fomentadora de cultura dentro dos espaços policiais. A PM tem uma tropa de elite. A doutrina de segurança nacional, implementada na época da ditadura militar, bebeu das doutrinas norte-americanas. Lá, o inimigo interno era o comunista. Aqui também. Essa cultura existe até hoje, mas de outra forma. Embora atualmente aja um resgate dessas figuras do comunismo. A partir dos anos 1990 e 2000, isso adquiriu um novo caráter: o inimigo se foi, mas a nossa sociedade ainda tem problemas. E quem são esses problemas? O pequeno traficante, o “aviãozinho”. Você tem também, em outro tipo de eliminação, digamos, professores, manifestantes, estudantes. Começou a se criar uma ideia de que nós temos inimigos sociais e que a Polícia Militar tem que combater isso em prol de uma coletividade que é difusa, que não reconhece esses cidadãos como “cidadãos de bem”, são só vagabundos, marginais, bandidos. Inimigo se elimina, o adversário se convive. Seja através da bala ou da dissuasão de manifestações.
Leia também: Por que a polícia se curva ao branco rico de Alphaville e é violenta na periferia
O militarismo é um ponto fundamental dentro da questão da segurança pública, e dentro da nossa militância também. Tem uma frase que é muito conhecida que diz “eu quero o fim da Polícia Militar”. A gente fala que queremos o fim da militarização. Porque aí entra em um outro problema: o policial militar é um trabalhador. Pensando nas estruturas, ele também é explorado. Quando você fala que quer o fim da Polícia Militar, você está falando para aquele cara, sem medir a individualidade, que ele é o inimigo, que é alguém que deve perder o emprego. A gente acha que o policial é o Estado, mas, acima de tudo, ele é uma pessoa, que tem uma família, que tem sonhos, que tem planos. Então batemos muito no fim da militarização, pelo bem do policial também. O militarismo é um agente muito forte. A gente convive com isso até dentro das pessoas do movimento. Apesar de críticos, muitos se pegam à doutrina do militarismo. Você é treinado para aprender a obedecer. Isso é muito ruim. Como eu levo um policial desse para a rua quando ele precisa dialogar? Ele não vai querer dialogar, vai querer colocar a vontade dele.
Ponte – Isso conversa muito com o vídeo que viralizou e mostra um PM sendo extremamente ofendido por um morador de Alphaville. Esse é o cidadão de bem, então ele não pode usar a força. Se fosse nas periferias, não seria essa a ação do policial.
Pedro – O cara é acostumado a duas coisas: a percepção de direitos é muito frágil, então ele acha que uma pessoa pode oprimi-lo, e, como há a relação de opressor e oprimido, ele pode ser o opressor. Nesse caso de Alphaville é característico. Tem muitos vídeos da mesma forma, de figuras que dão carteirada. Ele vê um cara falando daquela forma e não tem a segurança de agir como deveria agir profissionalmente. Aquela pessoa está deturpando a lei, então ela deve ser encaminhada e tratada como diz a lei. Da mesma forma, entende que pode oprimir. Aí ele vai na periferia, com o jovem, negro, pobre, que ele já vinculou como estereótipo de bandido, e entende que pode agir dessa forma.
Ponte – Nas manifestações isso também é muito expressivo. Tivemos o caso da bolsonarista com um taco de beisebol escoltada pela PM e, na sequência, repressão da polícia em um ato antifa. Esse policial recebeu uma ordem de cima?
Pedro – Eu sempre falo que é muito comum quando a gente fala de violência policial a gente colocar a culpa no mordomo. Tem toda uma estrutura que subsidia isso, que ampara isso. Esse cara tem medo de perder o emprego dele. Se ele faz isso, acha que tem resguardo para fazer isso, mesmo que seja por ignorância, mas ele sabe que, culturalmente, isso é aceito. O que se diz muitas vezes internamente é “não seja pego”. Não é “o que você está fazendo? Seu dever é outro”. Há todo um sistema que possibilita isso.
Leia também: Eles querem uma nova polícia
Mas não podemos esquecer a subjetividade do policial. E aí eu transfiro muito para as questões das manifestações. Muitos dizem que a polícia do [João] Doria isso e aquilo. Já há uma concepção, por boa parte dos policiais, que aqueles são os inimigos. Ele já tem a concepção também de que os manifestantes bolsonaristas são os amigos, os que tiram foto com eles, os que elogiam as ações. O policial é um ator ativo nessa situação. A esquerda, de modo geral, esqueceu o debate da segurança pública nas estruturas e nos profissionais. A ideia era despolitizar, deixar essa galera à margem. Mas não existe espaço vago na política. [Jair] Bolsonaro muito bem fez uso disso. Bolsonaro deu afago. Policial é uma pessoa carente, porque é difícil lidar com a realidade que ele tem que conviver, não só pensando no perigo, mas muitas vezes ele faz coisas que ele imagina que seja errado, mas são culturalmente vistas como certas. Estando certo ou errado ele tem que deitar a cabeça no travesseiro. Você agir com violência em uma situação, que seja proporcional, e resultar em uma morte, você não vai dormir do mesmo jeito. Isso abala e molda o ser humano. O Bolsonaro não é o pai disso, mas ele se apropriou, e falou para o policial não ter culpa, que ele está certo, que ele faz é pouco. Por mais que a política de Bolsonaro seja contra a polícia, ele [o policial] se sente abraçado.
Leia também: ‘Bolsonaro se elegeu porque a esquerda se recusou debater segurança pública’
Então houve esse problema da despolitização e hoje temos que correr atrás, dentro de uma mentalidade já formada, que também é muito simpática dentro de ideias conservadoras. Temos que ter em mente que aquele policial está ali, mesmo com a militarização, mesmo com as ordens estatais, ele também tem a predileção individual. Aí entra a questão de fiscalização com as Corregedorias para que essa pessoalidade, que é muito difícil de se moldar depois que foi configurada, seja restringida.
Ponte – Vemos muitos casos de prisões sem provas, em que há uma parceria entre as polícias, civil e militar, que acaba colocando inocentes nas prisões. Assim como também vemos muitos casos de mortes em decorrência de ação policial que nos registros policiais, nas delegacias, são colocadas como resistência ou desacato, só com a versão dos policiais militares. A Polícia Civil acaba dando aval para a versão da Polícia Militar. Por que esse tipo de coisa acontece?
Pedro – A Polícia Civil tem como função a investigação para subsidiar acusações ou, no caso, revelar a inocência de pessoas envolvidas indiciadas, apontadas como criminosas. Mas a Polícia Civil tem uma estrutura muito ruim. Quando falo de estrutura não estou falando de colete, mas de uma estrutura completamente ineficaz no sentido de investigação. Eu, enquanto policial civil, tenho que esperar que um delegado assine uma ordem de serviço falando que eu posso realizar certas diligências muito fechadas. Numa delegacia com onze pessoas, por exemplo, só uma tem, de fato, o poder investigativo. Como se faz polícia desse jeito? Não se faz.
Para Luiz Eduardo Soares, a Polícia Civil é feita para manter o interesse corporativo dos delegados e para subsidiar as ações praticadas pela Polícia Militar. A Polícia Civil serve para modular as ações, mas, de forma alguma, essa é a premissa. Era para que a gente fizesse investigação, que é um direito civil. É direito meu, enquanto cidadão, ser preso a partir de uma investigação que seja feita com cuidados, para não sofrer arbitrariedades. A culpa é da estrutura da Polícia Civil, não do corpo de pessoas que a compõem, como deixa claro Ricardo Balestreri [historiador e ex-Secretário de Segurança Pública de Goiás]. Não estou falando dos delegados, mas da instituição. A investigação demora. É mais fácil pegar alguém e prender, porque isso é mostrar resultado.
Ponte – E com relação à letalidade policial?
Pedro – Esse é o ponto mais sensível para se tratar. Da mesma forma que não pode ter uma criminalização exacerbada do cidadão, também não deve ter para o policial. O corporativismo pega esse cuidado profissional e blinda totalmente as instituições. Para fazer média com a categoria, um policial que está envolvido em situações criminosas é tratado de forma bem diferente do que um “bandido” comum seria tratado. Temos vídeos de policiais batendo nas pessoas e não são fatos raros, mas são tratados com corporativismo para resguardar certos chefes ou de resguardar a instituição para que ela fique intocável. A gente assiste isso não só na polícia. Um juiz que comete crime também deveria ser desligado da sua função. É uma cultura brasileira. Nem toda ação policial que termina em resultado letal é ilegal, tem que se olhar caso a caso. Caso seja (ilegal), deve o policial ter o mesmo tratamento que qualquer um do povo teria.
Ponte – Você virou policial depois de ter cursado História. Como que foi isso para você? Isso te fez entrar com uma visão diferenciada?
Pedro – Eu entrei, como tantos outros jovens, para ter um emprego. Aqui no Nordeste o mercado privado é bem complicado. Você tem que trabalhar muitas horas para conseguir um salário mínimo. Embora a polícia não seja o ambiente mais saudável, eu fiz essa escolha. Eu entrei com muitos receios. No próprio curso de formação, achei que não iria me dar bem. Embora o pensamento majoritário seja o que ainda é hoje, eu vi que tinha espaço. Fui me adaptando à profissão. Eu entrei muito crítico, mas entrei bem acelerado no sentido de investigar muito.

Uma vez, fui prender uma “grande traficante” de um município pequeno daqui do RN. Eu não fiz a investigação, ia só fazer a prisão. Chegando lá, vimos que ela era mãe solo, a casa sem reboco, sem água na torneira. Eu parei e pensei: “Essa é a traficante que eu tenho que prender?”. Isso fez meu nível de reflexão. Eu trabalhei no DHPP por três anos e via dezenas de corpos jovens negros, em um plantão, que não se tinha estrutura ou interesse político de descobrir quem e por que foi morto. Via que pessoas de classe alta tinha um tratamento completamente diferente daquele cara que era marginalizado.
Ponte – Como se houvesse uma pena de morte…
Pedro – É, é como se esse destino fosse aceito em alguns espaços. Quando cinco jovens em uma quebrada são mortos, mas eram 23h da noite, jovens negros na rua, a pessoa mesmo em silêncio deve dizer: “Deve ser envolvido com o crime”. Isso tá dentro do policial, tá dentro da sociedade, tá dentro do Estado. Fui vendo tudo isso e conheci os Policiais Antifascismo. Juntou a fome com a vontade de comer. É um pensamento que busca eficiência e retorno social. Tudo que eu não tinha em qualquer espaço dentro da polícia. Aí entrei de cabeça no movimento.
Ponte – Qual é a estrutura atual do movimento Policiais Antifascismo?
Pedro – Atualmente, estamos presentes entre 18 e 20 estados. No Amazonas, por exemplo, não temos Policiais Antifascismo, mas temos os Policiais pela Democracia, que a gente entende que não são afiliados, mas são irmãos. A quantidade de membros deve girar em torno de 1.500. Aqui no RN somos mais de 100 membros. Normalmente, somos maioria dentro da Polícia Civil, mas, aqui no RN, somos maioria na Polícia Militar.
Ponte – É difícil, de fato, vermos policiais militares em manifestações, por exemplo, pelos direitos dos profissionais de segurança pública, em sua maioria são policiais civis, agentes penitenciários ou policiais militares aposentados ou da reserva. Por que isso acontece?
Pedro – É o medo. Medo, costume, cultura. A doutrina militar é muito mais forte do que a de um policial civil. O policial militar é doutrinado a ter medo de superior, respeitas às ordens. Claro que isso se quebra, mas se quebra de forma pouco mensurada, como aconteceu no Ceará [durante a greve das polícias].
Ponte – Ia te perguntar isso. O que, de fato, aconteceu no Ceará?
Pedro – A gente ficou no fogo cruzado entre esquerda e direita. Uma parte da esquerda disse que qualquer ato grevista de um policial é motim. E é. Mas não deveria ser. É a questão da politização do policial. Vamos deixar esse cara apartado de tudo? Não existe isso. No Ceará aconteceu isso. Um cara que não tá acostumado a ter direitos, não pode fazer greve, não pode ter sindicato, não pode falar, quando ele fala, se apega a alguma linha. Eles escolheram a pior linha possível, seguindo, inclusive, uma estética miliciana. Agora deixando claro: eles, em sua maioria, não são milicianos, porque miliciano não faz greve. O cara que tá em greve, brigando por salário, é um policial que, infelizmente, foi convencido pelo pensamento bolsonarista, pelo pensamento conservador e por princípios milicianos, sim, porque ele acha que pode escolher quem morre e quem vive.
Leia também: Artigo | O que acontece hoje no Ceará é um motim e não greve
O movimento viveu isso na pele. O Leonel Radde saiu por isso. Temos duas linhas dentro do movimento: há os que preferem uma fala para dentro e os que preferem uma fala para fora. A fala para fora é majoritária. Falar em universidades, movimentos. A gente entende que quem vai mudar as polícias não são os Policias Antifascismo. É a sociedade que vai pedir uma polícia diferente, seja em estrutura ou em cultura. Já uma outra galera, que não é majoritária, pensam em um viés mais corporativo, que devemos abraçar muitas das pautas policiais, as que são correlatas, e brigar lá dentro como se fôssemos donos delas, ganhar empatia dos policias. Não tratamos isso como prioridade. Aí vieram as porradas, mesmo de gente que acredita que os policiais são trabalhadores e têm direitos, mas que têm, sim, que observar que aquilo ali extrapolou, como quem disse que aquilo era motim. Se é motim, como o policial vai lutar pelos seus direitos?
Ponte – E quais são essas bandeiras que vocês defendem?
Pedro – O primeiro ponto é a mudança de uma cultura social, a forma de ver perspectiva de polícia. A gente critica as instituições, enquanto esquerda, mas não sabemos o que propor. Muitas vezes falamos que não queremos polícia. Qual estado democrático de direito existe na realidade atual que não tenha órgão policial? É uma necessidade. Há muitas outras formas de polícia no mundo, que são diferentes das polícias brasileiras. Existem polícias militares em muitos países que trabalham de forma diferente. Outro ponto é a desmilitarização. A questão da legalização das drogas é outro ponto, trazendo da segurança pública para o sistema de saúde. Quebrando a questão do crime organizado, melhorando a qualidade clínica e psicossocial. Quando eu falo drogas, é o álcool também, que produz muito mais mortes do que as outras drogas, seja em violência ou acidentes de trânsito.
Ponte – Como é para vocês, principalmente os Policiais Antifascismo do RN, saber que o Ministério Público enxerga vocês como milicianos e terroristas?
Pedro – A investigação do MP tem 600 páginas. É o novo Dops [Departamento de Ordem Política e Social, usado como prisão para torturar pessoas na época da ditadura militar]. Eu vou até tirar da questão do MP e falar diretamente do Wendel [Beetoven Ribeiro Arga, promotor do caso], porque o MP é plural. Isso foi iniciativa dele. Entendemos isso como um viés político. Não se quis compreender o que foi falado nem a história do movimento. Simplesmente foi uma motivação pela raiva e jogou mais de 20 policiais numa vala.
Leia também: MP pede afastamento de policial que criticou atos pró-ditadura
Tem fotos e endereços nesse documento, que é público. A partir dessa divulgação, minhas fotos rodaram. Reproduziram textos que falam de Lula e de antifascismo, mas não fala de crime. É totalmente um texto de ditadura militar. Eles pedem a investigação como “grupo paramilitar”. Nós somos contra as milícias. Como vamos ser parte disso? Miliciano não dá a cara, a gente dá.
Ponte – O Mark Bray, autor do manual antifascismo, postou uma foto essa semana afirmando que não existe policial antifascismo. Como você recebeu essa mensagem?
Pedro – Ainda bem que nem o antifascismo é monocrático. Isso é uma opinião que eu respeito, mas aí eu trago outra: se ele está dizendo que um policial não pode ser antifascismo, ele tá dizendo que um vendedor de sapato não pode ser anticapitalista. Eu sou um trabalhador que segue ordens e essas ordens têm relação com as leis. Buscam, num plano ideal, que isso seja feito de acordo como interesse coletivo. Eu concordo que não são. Já um funcionário de uma revendedora de sapatos está também cumprindo a missão dele, que é buscar lucro para o empresário e, assim, manter o emprego dele. É a mesma correlação. O vendedor de sapatos não pode ter consciência de classe e pedir por um sistema diferente? Pode. Da mesma forma que um policial pode pedir por uma lei diferente. Eu peço por uma lei antiproibicionista e a lei hoje é proibicionista. Qual seria a saída? Que a gente entregasse as polícias aos fascistas? Já que o Estado é uma emanação fascistas?
Ponte – Muito se fala também que a polícia é racista, machista e LGBTfóbica. Como isso é trabalhado dentro do movimento? Já que ser antifascista é ser antirracista, contra o sexismo e contra a LGBTfobia.
Pedro – A gente tem que fazer isso dentro do movimento, porque muitos policiais ainda são machistas e LGBTfóbicos. A gente entende que, a partir do momento que ele tem uma leitura de realidade que esse sistema tá errado, ele pode passar por certas reformas. Se ele tem essa boa vontade, dentro da Polícia Militar, de dizer que é antimilitarismo e antifascismo, é uma ruptura muito forte.
Então entendemos que as outras rupturas são correlatas. Isso vem a partir de uma conversa. Eu não era antiproibicionista quando entrei no movimento. Aí fui assistir uma palestra de Sidarta Ribeiro [neurocientista] que acabou comigo. Eu entendi que a guerra às drogas era errada. A gente não espera que os policiais estejam prontos, estamos lá para ajudar. Nós reforçamos esses valores internamente. A gente não fala que tem policial homem, porque falamos policial mulher? Temos esse trabalho, que não é fácil, que deveria ser institucionalizado. Entendemos que tivemos evolução nas instituições. As mulheres da primeira turma aqui tiveram que pedir autorização para casar. A PM foi boazinha? Não. A sociedade cobrou isso. O grande motor para diminuir essas questões é a sociedade. Dentro das delegacias ainda há muitas piadas em relação à população trans, ainda é muito difícil vermos policiais LGBTs e não temos treinamento para lidar com esse público. A ignorância é um campo fértil para o desrespeito. As pessoas têm medo de ir na delegacia por conta disso.
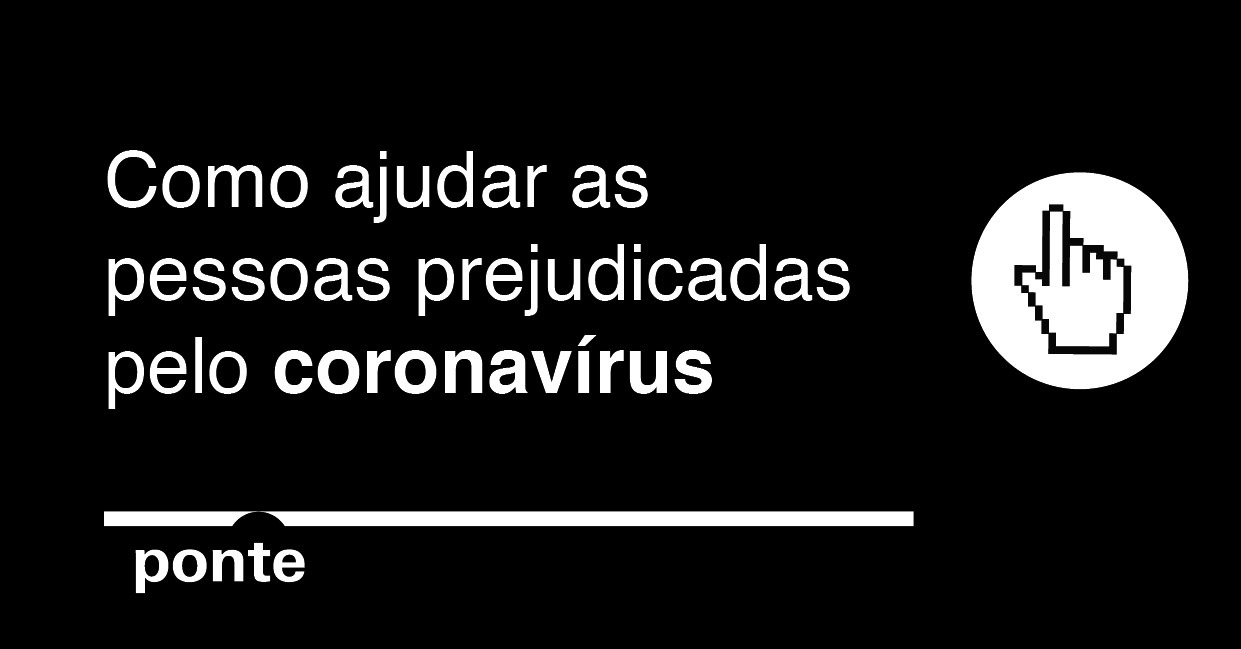
[…] o investigador Pedro Chê, essa narrativa se legitima quando se afirma que segurança pública se resolve apenas com […]
[…] Leia também: Como é ser policial e não apoiar o fascismo nos dias de hoje […]