“Onde a gente cresce não temos noção do poder da cultura e como ela pode expandir o nosso horizonte. A gente nasce numa bolha social e acaba acreditando que a muralha é alta demais”
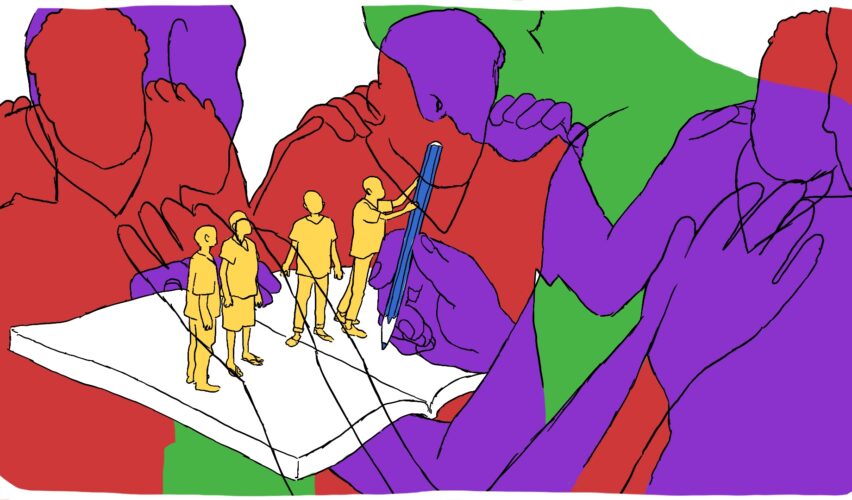
A série Refletindo a Liberdade é uma produção da ONG Reflexões da Liberdade, que, desde 2017, gera impacto social fazendo com que a sociedade repense os processos que enchem as prisões, ressignificando os territórios e desenvolvendo a comunidade para que reivindiquem a vivência das políticas públicas. A série traz os depoimentos de cinco egressos com diferentes histórias de vida, e será publicada ao longo desta semana, até o dia 1º/4.
Me chamo Edgar*, tenho 35 anos. Nos últimos 15 anos, fui preso quatro vezes. Minha primeira passagem foi por assalto e roubo de veículo. Estava acompanhando de um primo. Ambos adolescentes, estávamos alcoolizados, era a primeira vez que eu fazia algo parecido. É assim que começa: pensamos que não vai dar em nada e entramos numa espiral muito difícil de sair. Nas outras, fui preso por receptação e roubo de carga.
Durante a última passagem pelo sistema, quando comecei a buscar entender o que tinha me levado àquela situação, coincidência ou não, muitos livros chegaram nas minhas mãos, alguns de autoajuda, psicologia, romances e outros gêneros. Até então, eu não era o tipo de pessoa dada à leitura, mas depois que comecei, esse se tornou um hábito que não larguei mais e pude entender, por meio dos livros, os primeiros fatos que me levaram a chegar ali.
Acredito que uma prática vem sempre acompanhada de outra. Conforme eu devorava as páginas, fui tomado por uma curiosidade pela vida dos meus companheiros de cela. Cada novo integrante naquele cubículo, eu me aproximava e tentava conhecer um pouco sobre a sua vida. Queria entender por que estavam ali. Virei uma espécie de conselheiro ou um contador de histórias. Cada um me via de uma maneira, mas se sentiam bem de ter alguém para escutá-los.
Antes de sair, pensei “por que não escrever um livro sobre experiências que não encontrava nas obras disponíveis na cadeia?”. Usar a minha voz para ecoar tantas outras. Escrevi na Penitenciária de Dracena, no Interior de São Paulo. Eu usava a luz das muralhas para conseguir escrever no escuro.
Lentamente, fui ganhando confiança e comecei a ler em voz alta para quem quisesse escutar. E o livro, quando ganhou forma, foi passando de mão em mão até o momento em que minha liberdade foi anunciada.
Ao todo, fiquei 10 anos no cárcere. Em breve, completarei 5 que estou finalmente aproveitando a vida, sendo pai, estudante e um cidadão livre. Aquele livro escrito em um caderno velho eu nunca mais vi, mas lembro bem das palavras.
O começo
Minha mãe era empregada doméstica, meu pai, açougueiro. Meu contato com eles era mínimo. Minha mãe dormia na casa dos patrões e só voltava para casa aos fins de semana. Enquanto meu pai saía de madrugada e voltava à noite, quando eu já estava dormindo. Devo minha educação à minha avó e tia, que ficavam em casa. Foram elas que me deram toda base que eu precisava e que atualmente passo para os meus três filhos.
Quando eu tinha 7 anos, passamos por um período conturbado.
Acho que foi a perda da mãe e o abandono do pai que fizeram com que ele começasse a se envolver com drogas na vida adulta. Chegou até mesmo a usar crack. Lembro de correr atrás dele com a minha mãe pelas madrugadas.
Minha família descobriu um problema no meu coração. Os exames apontaram febre reumática e, como consequência dela, uma infecção forte no coração. Não podia mais estudar. Os médicos diziam aos meus pais que dificilmente eu chegaria aos 18. Mas hoje estou recuperado.
Para quem é pobre, um problema nunca vem sozinho. Nesse mesmo período minha mãe perdeu o emprego e começou a vender cachorro-quente na porta de escola. Ela sempre foi ligeira, nenhum problema ficava sem solução quando ela estava por perto. Certo dia, ela escutou na rádio sobre vagas disponíveis em uma clínica de recuperação e convenceu meu pai a se internar. O meu estado mexeu muito com ele. Lembro de ele me levar nos braços para a Santa Casa e aguardar o dia todo para passar na consulta. Completamente recuperado, meu pai é outra pessoa atualmente.
Antes de a minha mãe se despedir do meu pai, ela simplesmente anunciou que iria prestar um concurso para Polícia Militar. Era uma vontade que ela alimentava há algum tempo. Ela estava com 29 anos e viu uma brecha para reestruturar sua família. Meu pai deu de ombros. “Você não tem capacidade, só estudou até a 8ª série”, disse. Embora tenha sido humilhada, ela se sentiu desafiada. Era o estímulo que faltava. E não deu outra: foi orgulhosa e passou.
De onde a gente vem, as opções são essas: ou é cantor de pagode, de funk, ou jogador de futebol, ou é polícia e ladrão, ou trabalha para alguém. E minha mãe teve a oportunidade de sair da casa de família para ir para PM e para ela esse é o seu ganha-pão.
Hoje ela tem 25 anos de polícia, não responde a nenhum processo, não fez mal a ninguém. Trabalhou praticamente a vida toda com ronda escolar. Até hoje sou questionado como é ter entrado para o crime e estar na outra ponta daquilo que minha mãe representa. Vou dizer: foi desafiador. Os colegas dela pensavam que eu fazia mal a ela, que eu a deixava doente, e acredito que eles sentiam mais ódio de mim por causa disso.
Ao mesmo tempo, assistia com respeito o jeito com que ela exercia seu ofício. Suas abordagens nas ruas nunca eram no sentido de humilhar ou agredir, mas sempre para orientar e oferecer algum conselho. Penso que não poderia ser diferente. Passamos a nossa vida toda vivendo em comunidade, sabemos os sobrenomes, conhecemos as famílias e os problemas daqueles que vivem por perto. Muitos garotos acabam se perdendo. A pergunta que a gente se esquece de fazer é “como chegaram até ali?”.
O buraco no caminho
Se para tantos outros, o impulso para cometer delitos foi a vontade de viver melhor, ter mais grana, para mim, foi um episódio que presenciei ainda criança.
Quando eu tinha 10 anos, perdi meu irmão. Estávamos em uma piscina, brincando, num clube de campo. Do nada, ele teve uma convulsão e puxou muita água para dentro. Foi tudo muito rápido e eu não entendia o que estava acontecendo. Tirei ele da água, o salva-vidas veio e ajudou. Nossa família chamou o socorro. Diante da gravidade, ele foi levado por um helicóptero da polícia. Isso foi ao meio-dia, à meia-noite ele faleceu.
Tenta explicar a morte de alguém que a gente ama para uma criança. É uma realidade que não conseguimos aceitar. Ele era meu grande parceiro, mais do que meu irmão. Fazíamos tudo juntos.
Essa culpa eu carrego como uma cruz.
Aí arrumei treta com Deus. Falei: “Tinha tanta gente ruim e foi levar justo o meu irmãozinho”. Decidi que seria a pior pessoa do mundo. Mas pura ilusão, eu tinha um coração bom, só estava machucado. Dali em diante, perdi o foco na escola. Não conseguia mais enxergar o professor falando na frente da sala. Ali mesmo eu riscava meus braços com compasso.
Sabe como que é: a gente não tem um psicólogo. Acho que deveria ter em todas as escolas. Inclusive, tenho vontade de estudar psicologia por causa desse trauma. Ninguém identificou isso em mim porque eu era caladão. Era aquela pessoa que quando aprontava, ninguém acreditava. Então, perdi o foco, fui para o fundão na sala de aula. Lá tinha um monte de alunos, que como eu, tinham perdido a perspectiva.
Quando estava com 15 para 16 anos, fui para Fundação Casa, no Brás. A realidade lá é brutal. Ninguém passa a mão na cabeça porque somos adolescentes. Os moleques passam por tortura. Mas os agentes só batem na boca do estômago ou na cabeça para não deixar marcas tão visíveis. E batem por qualquer motivo, para pegar como exemplo para os outros menores. Fiquei 45 dias lá, e depois fui para a Raposo Tavares, onde fiquei mais seis meses devido a um assalto de carro.
Quando eu saí, descobri que aquilo não era uma coisa ruim. Para o lugar em que eu morava era uma coisa boa. Quando saí, eu vi aquilo como se fosse um diploma universitário.
Quando você vai preso, não cagueta ninguém e segura a bronca, você passa a ser visto como um cara valente, ainda mais num lugar em que é comum esse tipo de coisa acontecer.
Já na minha família, eu via o sofrimento no olhar da minha mãe, o desgosto no olhar dos meus avós, mas eu não sentia, não conseguia ter empatia, perdi a capacidade de me colocar no lugar das pessoas, principalmente da minha família.
Só que da porta para fora, eu era conceituado, tinha um respeito e isso me levava a crer que aquilo era bom. Então surgiram alguns convites para entrar no tráfico.
A minha base sempre me puxava para porta de saída. Nas vezes que eu saí, trabalhei em açougue, trabalhei com recursos humanos, com comunicação visual. Só que toda vez me vinha aquele sentimento de que eu não era aquela pessoa trabalhando para ganhar pouco, eu era aquela outra, respeitada, que, aonde eu ia, aquilo me puxava de novo. Na última vez, fiquei cinco anos. Eu não admitia que a minha família fosse me visitar. Todos que tentaram me ver deram com a porta na cara. Matei no peito sozinho essa prova.
Eu não tinha noção. Na verdade, onde a gente cresce não temos noção do poder da cultura e como ela pode expandir o nosso horizonte. A gente nasce numa bolha social e acaba acreditando que a muralha é alta demais. A gente acaba se conformando com isso. E a leitura me mostrou que tem outros mundos no mesmo mundo que o meu e eu posso adentrar ele e sobreviver, dar orgulho para a minha família.
Me senti burro. E aí eu comecei a me comunicar com as pessoas em volta de mim. Escrevi carta para quem não sabia escrever e passei a conversar com amigos. Até hoje, quando nos encontramos, eles sentem essa liberdade de se abrirem comigo. Homem não conversa de coisa pessoal. E todos eles conversam comigo, vêm desabafar.
Nessa vida se você tem dois números, um vende e o outro compra, você já está bem de vida. E é difícil pegar esses contatos, conquistar a confiança. Só com o tempo, muitas provas. Eu já tinha tudo isso.
Não precisava trabalhar mais. Ligava para um, pegava a mercadoria, ligava para o outro, entregava. E ficava bem de vida.
Ainda na prisão, surgiu a oportunidade de fazer um curso de pintura predial. Decidi tentar. Meus amigos pensaram que eu estava fazendo a escolha errada.
“Você tá doido, cara, pode fazer curso profissionalizante ou o que for, quem vai te dar um emprego lá fora?” Falei “cara, eu não sei, mas eu preciso”.
Não queria mais dinheiro. Eu só queria o orgulho dos meus filhos, porque geralmente quem tem dinheiro, não tem isso. Ou tem uma coisa, ou tem outra. O dinheiro estava na contramão do meu objetivo, que era conquistar o orgulho da minha filha – até ali, eu só tinha ela.
Eu não tinha RG, não tinha CPF, não tinha um currículo, tampouco o que colocar no currículo. Não tinha reservista, meu título de eleitor estava atrasado, sem documento nenhum. Como que eu ia competir contra 10 milhões de desempregados? Sendo que muitos têm ensino superior, Mas eu acreditei, porque a minha fé estava forte.
Era mais difícil estar aqui fora do que arrumar emprego, pensava.
Eu já tinha descoberto que eu não ia conseguir um resultado diferente daquele jeito. Então bloqueei todo mundo, não tenho contato com ninguém, e me mudei. Foi então que conheci a minha esposa, ela que me apoiou. Guerreira, também trabalhadora. E foi mais um motivo para me dar força para eu dar orgulho para ela. Falei: vou pegar R$ 30, vou comprar chocolate, vou comprar bala e vou sair vendendo, vou vender no trem.
Claro que não deu certo. Durante todo aquele dia não consegui vender um chocolate sequer. Hoje guardo aquela caixa como recordação, como um símbolo de mudança. Consegui uma chance como promotor de vendas de planos dentários. Depois, trabalhei na Starbucks, onde passei de ajudante para alisador de massa, na linha de produção dos croissants.
Lentamente, mais pessoas foram confiando em mim. Meu sogro foi uma delas. Ele era pintor e precisava de alguém para ajudar no seu empreendimento.
Ganharia um pouco mais do que o último trabalho.
Aquele curso, afinal, foi o que me ajudou.
Ainda passo por muitas provas atualmente: de saúde, financeira, mas nunca me senti tão livre. Finalizei os meus estudos e o próximo passo é a faculdade. Eu quero ajudar os jovens.
Quero ser aquele psicólogo que eu não tive na escola na época em que perdi o meu irmão.
*O nome foi alterado para preservar a identidade do entrevistado.
Entrevistas e depoimentos por Humberto Maruchel Tozze e edição por Thiago Ansel
