Repórter da Ponte passa a usar nova assinatura e explica: “Eu fui Paloma. Agora, aos 29 anos, nasceu Caê. E eu reivindico o gênero masculino: ele, dele“

Prazer, sou Caê. Alguns de vocês me conheceram como Paloma. As pessoas mais próximas podem achar que foi repentino Paloma se tornar Caê, mas, para mim, essa transformação começou há 3 anos.
Sou um homem trans, que por doze anos se identificou como sapatão. E como me identifiquei! Ser sapatão realmente foi um ato político na minha vida e, por muitas vezes, a minha maior essência. Mas agora é uma caixa que não me cabe mais. Não por completo, porque foram anos importantes que não quero e não vou apagar.
Tudo começou a fazer sentido para mim em 2017, quando comecei a escrever o meu livro-reportagem “Transresistência: Histórias de pessoas trans no mercado formal de trabalho”, que apresentei como TCC para obter o diploma de jornalismo. A Ponte publicou os capítulos deste livro no começo de 2018, que chamamos de “Especial Trans“.
Confira todos os textos do “Especial Trans”
Foi esse livro, aliás, a minha porta de entrada aqui na Ponte. Além da publicação do meu livro aqui, tive a chance de ser repórter desse veículo que tanto almejei e admiro. Aí me tornei uma repórter especialista na cobertura LGBT+. Tive a chance de falar dos meus da forma que acredito que todos os jornais deveriam fazer.
Hoje percebo que, com isso, encontrei um jeito de esconder a minha identidade de gênero, de mim e de todos ao meu redor. Eu não precisava sair do armário da cisgeneridade (condição de uma pessoa que se identifica com o gênero de nascimento), porque estava trabalhando transgeneridade (condição de uma pessoa que não se identifica com o gênero de nascimento) dentro de mim de algum forma. Não a forma certa, mas estava entrando nesse novo mundo, o meu mundo, em que tudo fazia sentido.
Eu tive uma criação bastante regrada nas normas da nossa sociedade, em que meninas tinham que fazer “coisas de meninas” e meninos faziam “coisas de meninos”. Até os 17 anos, quando em dei conta que a minha sexualidade não estava no padrão que esperavam de mim, ou seja, que eu gostava de meninas, tinha em minha mente que precisava me apaixonar por um menino, casar, ter filhos e por aí vai.
Uma das frases que ouvi de minha mãe, e a que mais marcou a minha vida, era que tudo bem eu ficar com meninas, mas não ia aceitar que eu “virasse homem” — ninguém vira homem ou mulher, ok? Pessoas trans são condicionadas a viverem como pessoas cis e, por conta do pensamento da sociedade que vivemos, alguns de nós demoram muito para entender que tudo bem não se encaixar nas caixinhas que acham certas.
Leia também: Artigo | Por que falar em LGBTfobia e não homofobia
Ela aceitava que eu namorasse uma menina, desde que eu não usasse “roupas de homem” e tivesse “cabelo de homem”. Eu não culpo minha mãe por isso, pelo contrário, apesar de reproduzir frases como essas, foi ela quem me ensinou a ter orgulho de quem eu era — e acho que, no fundo, sempre soube que não tinha dado à luz uma menina e sim um menino, o que, aliás, era o maior desejo dela nessa primeira gravidez.
Ela me ajudou a sair do primeiro armário — na verdade, me empurrou dele quando, sem eu nem mesmo ter certeza de que, de fato, era lésbica, contou para toda a família materna —, então é bem doloroso não ter ela aqui comigo hoje. Minha mãe perdeu a batalha contra a depressão em julho de 2017, quando nos deixou. Ela sequer teve a chance de me ver jornalista de fato, já que cometeu suicídio dias depois da minha banca de avaliação do TCC. Contei a história dela em uma crônica que escrevi na Agência Mural, onde fui correspondente até 2019.
Até eu entender que, de fato, era uma pessoa trans, eu tinha esse medo: me tornar o que minha mãe me pediu para não ser. Eu sabia, ou esperava, que muitas pessoas ao meu redor, principalmente familiares, também tivessem essa reação se soubessem que eu pudesse ser um menino e não uma menina como eles me viam.
Leia também: Linn da Quebrada: ‘Minha música é feitiço, manifesto, denúncia e ponte’
Então vivi como menina até dezembro de 2019. Mesmo tendo muitas dúvidas, tentei assumir esse papel. Mas do meu jeito. Acabei adotando as “roupas de menino” pouco depois que terminei o ensino médio, em 2009, quando comecei a comprar as minhas próprias roupas. Fui aos poucos adotando uma expressão de gênero (a forma que a sociedade nos enxerga) no gênero que me sentia confortável.
Em 2017, com o TCC e a dúvida de ser uma pessoa trans, veio também o cabelo curto. Eu tinha muito respeito (e medo) da minha mãe, que nunca me bateu, mas sentia calafrios só de ouvir os seus gritos, então pedi autorização para cortar o cabelo. Bem curtinho. E assumir, então, os meus cachos. Ela aprovou e eu fiz. Desde então nunca mais tive cabelos compridos.
Quem não me conhecia e me via, em muitas vezes, a maioria das vezes na verdade, me tratava no masculino, porque eu vestia “roupas de menino”, tinha “cabelo de menino” e me relacionava com meninas. Mas eu ainda tentava me encaixar no “ser mulher”.
Cheguei a escrever alguns textos, um publicado na Mural e outro no site do Nós, mulheres da periferia, sobre os diversos jeitos de ser mulher. Muitas amigas e mulheres lésbicas reivindicam isso e temos que entender que não há, de fato, um único jeito de ser mulher. Mulheres são plurais. Entendendo isso, me forçava a acreditar que estava incluído nisso.
Mas, em dezembro de 2019, quando assisti ao documentário “Bixa Travesty“, da Linn da Quebrada, percebi que eu não era uma mulher não feminilizada: eu era um corpo trans. Assim como um corpo de uma mulher cis (que se sente confortável com o gênero de nascimento), que é plural, homens cis também são plurais. Logo, pessoas trans também são.
Leia também: Bixa Travesty: um hino travesti no cinema
Não existe um manual para ser uma pessoa trans que a gente tenha que seguir. Tá tudo bem querer ou não fazer a hormonização (processo de transição de gênero com tratamento de hormônios do gênero de identificação, no meu caso masculino). Tá tudo bem ou não querer fazer cirurgias. Tá tudo bem ou não se enquadrar em algum dos gêneros da binaridade: masculino ou feminino. Tanto que há pessoas trans não-binárias (que não se enxergam nem como homens nem como mulheres). Eu optei por querer ambas as coisas, mas isso não me tornará mais ou menos trans do que outras pessoas.
Ali, eu vi que tinha encontrado o meu lugar, independentemente de qual fosse. De cara, entendi que era uma pessoa não-binária. Mas, aos poucos, fui percebendo que homem trans me contemplava. Ainda estou trabalhando isso, por preconceitos internos, medos internos, de me tornar tudo o que eu sempre tentei não ser: homem, hétero e branco. Sobre o hétero, já decidi com a minha companheira Raquel que não seremos um casal hétero, já que somos duas pessoas LGBTs, eu, trans e ela, bissexual.
Aos poucos estou aprendendo que depende só de mim criar a minha versão de homem, criar a minha masculinidade. Estou aprendendo que não preciso (e não vou) reproduzir as masculinidades tóxicas do machismo que eu sempre lutei contra — já que me considerava feminista. Entendo e enxergo o meu privilégio enquanto pessoa branca, mas antirracista, que há tempos tenho lutado contra o racismo em mim e nas pessoas ao meu redor.
Não sou uma pessoa trans porque, na infância, preferia azul, jogava futebol e não brincava de bonecas. Isso não tem a ver com o meu gênero. Meninas podem, e devem, brincar e gostar do que quiserem, assim como os meninos. Dia desses, na terapia, comentei como, desde meus primeiros anos de vida, lutava, sem saber, contra a binaridade compulsória.
Eu gostava muito de futebol, de jogar e assistir, mas também gostava de coisas que diziam (de forma bem errada) ser “coisas de meninas”, como música pop. Sou fã, sem vergonha de dizer, da RBD (aquele grupo mexicano originário da novela Rebeldes, sim). E, pasmem, queria ser a menina mais feminilizada do grupo na infância.
Leia também: Por que alteração de nome sem cirurgia é conquista para transgêneros
Isso não vai me tornar menos homem trans hoje em dia, assim como me vestir como Avril Lavigne (cantora canadense que, em 2002, foi um marco mostrando que meninas podiam vestir “roupas de meninos” e andar de skate) nunca me fez menos menina, assim como ela, que aliás é heterossexual (se relaciona com pessoas do gênero oposto) e cisgênera.
Não neguei minha transexualidade por preconceito, mas por medo de como os outros iriam me ver. O medo da solidão e do abandono sempre foi presente em minha vida. Acho que muitos LGBTs entendem quando digo isso. Perdi meu pai ainda nos primeiros anos de vida, em decorrência de um câncer cerebral, então sempre tive que lidar com perdas. Em 2017, a morte da minha mãe se somou a isso. Não queria mais perdas. Por isso, posterguei o quanto pude sair do armário da transexualidade.
Como eu disse ali no começo, quem vê de fora pode achar que foi algo repentino, mas não foi. Desde meu nascimento é algo que fica indo e vindo, mas, que, em 2017, com o meu livro, se tornou mais presente. Durante muito tempo, pude esconder isso, já que a temática trans fazia parte da minha vida profissional.
Ouça também: PonteCast | A população LGBT+ na pandemia: riscos e soluções
Me questionaram mais de uma vez se eu era uma pessoa trans nesses anos desde que me formei e eu tinha um aval: “não, eu só pesquiso essa área, porque é minha área de atuação profissional”. Caê mal sabia que, na verdade, isso era ele se preparando pra quem ele realmente era.
Ainda estou trabalhando muita coisa em mim e ainda me custa dizer que sou um homem trans, mas sei que o gênero que me foi dado no nascimento, o feminino, não é o que quero seguir. No alto dos meus 29 anos de vida, então, Caê nasceu. E Caê reivindica o gênero masculino: ele, dele.
Infelizmente, nós, pessoas trans, precisamos de um laudo para começarmos a hormonização. Evoluímos muito, agora podemos retificar o nome sem esse laudo ou as cirurgias, mas para harmonização precisamos desse papel. Consegui esse documento no último dia 19 de maio e no 21 tive a minha primeira consulta com o endocrinologista (médico que me ajudará com o processo de hormonização). Mas uma coisa importante é entender que a transição é muito mais interna do que externa.
O nome Paloma nunca me coube. Detestava esse nome (desculpa, pai). Ainda criança, tinha uma lista secreta de nomes novos. Só um era feminino, Maria Eduarda, que cogitei trazer de volta agora como Duda. Diego, Thiago, Lucas foram alguns dos nomes masculinos dessa lista. Cheguei no Caê por acaso, mas sei que esse nome que me escolheu. Alguns meninos trans, inclusive o Pedro, que acompanhei no fim de 2018 quando fez a retificação do nome nos documentos, haviam me dito que saberíamos qual é o nome certo assim que nos deparássemos com ele. Com Caê foi assim.

Queria um nome neutro, chega dessa binaridade, então comecei a pesquisar opções. Fiquei entre o Duda, Dominic e Caê. Mas Caê já tinha se tornado meu nome antes de eu comunicar minha companheira (que preferia o Dominic, mas aceitou bem). Daí comuniquei os poucos amigos que sabiam da transição e todos curtiram.
Contei para o pessoal aqui da Ponte, que me acolheu imediatamente. Combinamos que contaria para o público por meio desse texto. Chegava a hora de falar com a família. Amanda, minha irmã, de apenas 15 anos, foi quem me ajudou com isso. Contou para o meu tio, irmão da minha mãe, que contou para a minha vó. Minha irmã também contou para mais duas tias, também irmãs da minha mãe. Aí pude mudar nas minhas redes sociais. E agora chegou o momento de mudar aqui, na Ponte.
Para pessoas trans, principalmente para as mulheres transexuais e travestis, os caminhos são muito difíceis. Sem aceitação em casa, acabam não terminando os estudos e tem muitas portas fechadas no mercado formal de trabalho (90% delas encontram apenas na prostituição e em trabalhos informais uma chance — esse foi o motivo pelo qual fiz o meu TCC sobre esse assunto). Também não encontram acolhimento em seus relacionamentos. Por isso, rejeição e abandono cruzam a vida de pessoas trans desde cedo.
Que sorte a minha ter acolhimento (até agora) de todos que me importam. Queria que todos os meus tivessem essa chance: ser quem são sem perder quem amam. Quem sabe um dia a gente evolua como sociedade e nós, pessoas trans, paremos de ser vistos apenas como uma genitália e possamos ser amados, acolhidos e respeitados pelos que nos cercam. Se eu pudesse fazer apenas um pedido, seria esse: parem de nos matar, pelos assassinatos e pelos suicídios, e nos acolham.
Dedico esse meu primeiro texto como pessoa trans às pessoas trans que perdemos nos últimos anos: Laura Vermont, Dandara dos Santos, Matheusa Passareli, Verônica de Oliveira e, recentemente, Demétrio Campos. Obrigado por abrir os nossos caminhos, enquanto homens trans e pessoas transmasculinas, João W. Nery.
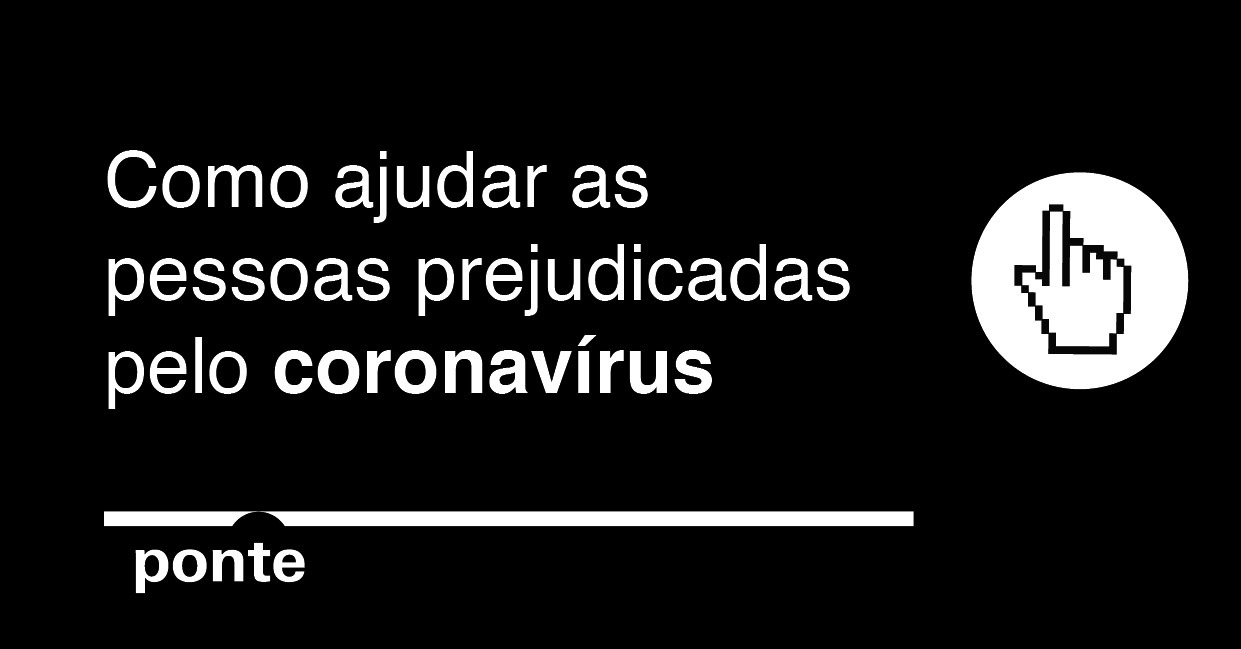

[…] meses antes, em maio, eu escrevi um texto aqui na Ponte contando sobre a minha transição de gênero. No mesmo mês, bati um papo com a ex-editora da Ponte, Maria Teresa Cruz, sobre esse processo […]
[…] meses antes, em maio, eu escrevi um texto aqui na Ponte contando sobre a minha transição de gênero. No mesmo mês, bati um papo com a ex-editora da Ponte, Maria Teresa Cruz, sobre esse processo de […]
[…] sua motivação para escrever o texto “Prazer, Caê”? Teve a repercussão que você […]
[…] de sua irmã, falou para a sua família. Na Ponte Jornalismo, onde trabalha atualmente, também já estava tudo preparado para sua apresentação. Em junho de 2020, iniciou seu processo de hormonização. Atualmente, se enquadra em uma posição […]