Em entrevista à Ponte, cantora explica que “Corpo sem juízo” vai além de uma autobiografia: é sobre nascimento, vida e morte das vivências trans

De artista trans para repórter trans. Ou melhor artivista (artista que, através de suas músicas, é ativista). Assim foi o papo que Jup Lourenço Mata Pires, a Jup do Bairro, 27 anos, teve com o repórter Caê Vasconcelos, da Ponte, sobre o primeiro disco: Corpo sem juízo, lançado em junho de 2020.
“Eu não me recordo de ter sido entrevistada por uma pessoa trans. Ser entrevistada por ti, por exemplo, mostra uma linha de frente efetiva. Nós precisamos ter pessoas trans enquanto protagonistas, cantoras, atrizes, sim, mas precisamos ter pessoas trans entrevistando, precisamos ter uma produção trans”, diz a cantora.
Cria do Capão Redondo, quebrada no extremo sul da cidade de São Paulo, Jup entrou para a música sem grandes pretensões. Em 2012, porém, um encontro inusitado marcou sua vida: se reconheceu e se identificou com Linn da Quebrada, que ainda era apenas Lina Pereira.
Leia também: ‘A nossa existência não pode mais ser ignorada’
Entre 2014 e 2015, Jup quase desistiu da música. Por falta de dinheiro, viu seu primeiro álbum ser jogado no lixo por um antigo produtor. Pouco depois, em 2017, subiu ao palco pela primeira vez com Linn para fazer segunda voz. De lá, só saiu para gravar o “Corpo sem juízo”.
Por 8 anos, Jup e Linn percorreram o mundo da música — e das telinhas e telonas — juntas. “Durante esse tempo, fiquei arquitetando a minha vontade de lançar esse trabalho solo, de reviver essas faixas que eu tinha escrito. Mas, muitas delas, por exemplo, eu abri mão, porque o meu corpo mudou, minha cabeça mudou, minhas urgências mudaram”, conta Jup.
Confira a entrevista feita por Caê Vasconcelos com Jup do Bairro:
Caê – Foi depois de assistir ao documentário Bixa Travesty que eu consegui entender uma pessoa trans. Queria, então, que você começasse contando como foi estar tantos anos ao lado da Linn da Quebrada e agora focando na sua carreira solo?
Jup – Eu conheci a Linn em 2012. Nós fazíamos trabalhos distintos, ainda não existia a Linn da Quebrada. Eu vinha trabalhando com música, com rap, e o nosso encontro aconteceu de uma maneira muito espontânea, foi na primeira edição do festival “SP na Rua”. Ela estava fazendo uma performance em um palco e eu me apresentando em outro. Nessas trocas de palcos, eu encontrei algumas amigas e alguns amigos no centro e tinha visto a Linn e foi uma beleza que me encheu muito os olhos. Também por ela ser muito bonita, mas principalmente porque, naquele grupo que eu estava entrando, a questão do recorte de não binaridade e outras performances de identidade de gênero estavam muito pulsantes. Mas acabava sendo muito branca e acadêmica.
Leia também: Linn da Quebrada: ‘Minha música é feitiço, manifesto, denúncia e ponte’
Encontrar a Linn foi um momento de match mútuo. Mas, assim que nos apresentaram, eu soltei uma piadinha: “é Linn de linda?” e aí ela virou o olho. Com o tempo, a gente foi se aproximando de uma maneira muito forte. Além desse recorte racial, a gente começou a ser contratada para as mesmas festas. Então, enquanto eu cantava, ela performava. E acabávamos ficando na rua, esperando o metrô abrir, era um super perrengue.

Além disso, tínhamos a dificuldade geográfica, porque ela era da Fazenda da Juta, no extremo leste, e eu do Capão Redondo, extremo sul. Mesmo assim, fomos nos encontrando e ela começou a me apresentar algumas escritas, coisas que permeavam a cabeça dela e, de alguma forma, foi muito quando eu comecei a ingressar na música. Ela, assim como eu, escrevia sem pretensão. Aí eu chegava e falava que isso era música. Música é uma das maiores ferramentas das artes, de alcançar novos lugares, novos percursos.
Caê – Você já pensou em desistir?
Jup – Chegou em um momento da minha carreira, de 2014 para 2015, que eu já tinha tudo quase pronto para ter o meu disco de estreia. Mas, em um momento, esse produtor, que também era meu amigo, falou que precisava de dinheiro para lançar esse trabalho. Ele me cobrou cerca de R$ 2 mil para me dar o disco para distribuir, mas eu não tinha esse dinheiro. Ele apagou as músicas na minha frente. Foi um baque gigantesco, que me deixou um trauma. O corpo trans, o corpo travesti, tem um chip de adaptação aos tempos tecnológicos muito grande. A gente literalmente está batalhando pela vida, então os espaços acabam sendo consequências. Eu comecei a experimentar outros lugares como a performance, como MC. Quando eu já tava decidindo que eu ia parar com a música, eu fui anunciar um show de encerramento e acabei recebendo um convite para participar do filme “Abrindo o armário”, de Darío Menezes e Luís Abramo.
Leia também: Curta-metragem fala sobre como é ser mulher, negra e LGBT nas periferias de SP
Como eu convidei a Linn para participar desse show, e eu já conhecia muito as escritas dela, acabei fazendo uma espécie de segunda voz, uma voz de apoio, e quem estava lá ficou muito impressionado, falando que tínhamos uma conexão muito boa. Eu já tinha me apresentado performando junto no começo da carreira dela, mas eu nunca tinha cantado com ela. A gente não tinha nada em mente, a Linn estava começando, tinha alguns shows marcados, e disse que se sentia segura comigo, com a minha presença no palco. Então começamos a explorar essa parceria que rendeu anos. Eu com a minha colaboração de co-criar Pajubá [primeiro disco da Linn da Quebrada, lançado em 2017] e imaginar como seria essa carreira.
Caê – E como foi esse início?
Jup – Eu brinco que eu era a Severina dela, porque eu fazia tudo. Eu respondia mensagem, vestia ela, porque a Linn era cafona, cafona, cafona [risos]. Ela tinha um gosto peculiar para moda. Eu sempre tive um engajamento muito grande com roupa, imagem, e dava um apoio para ela nesse sentido. Fazia as artes, os flyers e tudo mais. Fizemos essa caminhada juntas. Durante esse tempo eu sempre fiquei arquitetando a minha vontade de lançar esse trabalho solo, de reviver essas faixas que eu tinha escrito. Mas muitas delas, por exemplo, eu abri mão, porque o meu corpo mudou, minha cabeça mudou, minhas urgências mudaram.
Caê – O que é ser artivista?
Jup – Eu sou de uma gama de artistas que reproduzem suas artes em cima das dores que o sistema causa sobre os nossos corpos. Precisei falar sobre outras urgências, outras coisas que permeavam esse novo corpo, essa nova mente. Eu era muito fiel a isso em minhas composições. “Corpo sem juízo” [o single, lançado em 2019] foi uma das primeiras canções que eu escrevi, aos 13 anos. Eu acredito que o lugar de identificação de gênero veio primeiro do que a sexualidade. Quando eu era pré-adolescente, [o questionamento] é de que eu tinha nascido em um corpo errado. Hoje eu entendo que não existe corpo errado ou corpo certo, o corpo certo é o meu corpo.
Leia também: Bixa Travesty: um hino travesti no cinema
A gente acaba tendo essas referências com o passar do tempo, principalmente quando a minha busca de mulheridade [formas de ser mulher] e de passabilidade [conceito de uma pessoa trans que é lida socialmente como cis] acaba sendo ou de pessoa cis [pessoa que se identifica com o gênero de nascimento] ou de pessoas trans muito mais passáveis. Isso foi muito traumático para mim porque eu ficava pensando: “Eu vou ter que mudar a minha voz? E quando eu não quiser me maquiar? O que eu vou fazer com os pelos do meu corpo?”. Por isso eu escrevo esse corpo sem juízo, que é um corpo nesse não-lugar, esse corpo desobediente dentro dessa norma que busca algum tipo de pertencimento.
Caê – O que é um corpo sem juízo?
Jup – Eu acredito que todo mundo que vive em sociedade quer pertencer a algo, para legitimar sua própria humanidade. Como eu não me sentia pertencida aos espaços que me eram oferecidos, eu precisei criar um lugar que fosse possível para mim. Quando me vem essa urgência de eternizar minhas ideias, nasce o “Corpo sem juízo”, que é um corpo coletivo, um disco construído coletivamente. Por isso as composições dizem muito sobre isso.

É também um EP biográfico, mas não termina em mim. Eu quero dividir também essa responsabilidade. Eu levanto um lugar de desconforto para mim, mas acredito que seja importante devolver esse desconforto para quem estiver ouvindo. Busco não ser tão agressiva, mas acredito que muitas pessoas verão dessa forma. A arte parte muito disso, essa representação do que nos dói, de reconhecer o nosso papel e entender como a gente financia esses corpos.
Caê – Como você enxerga a representatividade e a representação das pessoas trans?
Jup – Nós somos totalmente responsáveis pelo o que a gente consome: música, arte, comida, roupa. É importante levar essas provocações para que a gente não fique detendo esse poder da ilusão da representatividade única. Eu acredito que a representatividade é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que você representa e acaba movendo pessoas, de alguma forma isso pode paralisar. Pessoas que se reconhecem em recortes parecidos com o meu de olhar e falar: “Olha lá, já tem a Jup, já tem a Linn, então eu posso ficar aqui escondida, na minha cama, porque tem alguém me representando”. E não é isso. Já estamos em guerra durante muitos anos, perdemos grande parte do nosso exército para estar em lugares como esses.
Caê – Descentralizar o protagonismo?
Jup – Eu não me recordo de ter sido entrevistada por uma pessoa trans. A gente tá disputando território. Quando há disputa de território, não pode ser única e exclusiva do protagonista. Ser entrevistada por ti, por exemplo, mostra essa linha de frente efetiva. Nós precisamos ter pessoas trans enquanto protagonistas, cantoras, atrizes, sim, mas precisamos ter pessoas trans entrevistando, precisamos ter uma produção trans. Isso eu digo também sobre a representatividade preta. Pensar só em representatividade é muito pouco. A gente tem que pensar em equivalência. A gente precisa pensar em equidade para que a gente consiga entender as revoluções possíveis de fato. Eu sinto que, de alguma forma, a sociedade tem entendido o corpo trans e o corpo travesti enquanto estiver no papel de representação como maravilhoso, mas continuam demonizando os corpos trans que estão à margem.
Leia também: ‘Vozes transcendentes’ fala de diversidade na nova cena musical brasileira
Qual é essa negociação de fato da Jup que tem uma conta verificada? É uma validação dessa higienização? A partir do momento que eu saio da internet eu continuo sendo esse corpo marginalizado que corre risco de ter a vida interrompida a qualquer momento. Muita gente tem falado que estamos vivendo o fim dos tempos, mas já estamos andando sob os escombros há muito tempo. O que o mundo está vivendo hoje é o que os corpos trans e corpos pretos já viviam há muito tempo, que é o medo de sair de casa e morrer. Agora é em uma outra ótica, a pandêmica, que, não à toa, atinge todas as classes, raças e performances de gênero. O genocídio do corpo preto, o genocídio do corpo trans não deixa de ser pandêmico enquanto plano de extermínio. Falar sobre transexualidade é chato, falar sobre sexualidade é chato, falar sobre raça é chato, quando, na verdade, isso é um problema de todo mundo. Eu diria além: a transfobia é um problema muito maior da pessoa cis do que da pessoa trans, o racismo é um problema muito maior da pessoa branca do que da pessoa preta. A gente tem que desvincular esse papel de fala, porque isso é muitas vezes mais uma preguiça de exercer pensamento do que reconhecer que não é seu lugar de fala. O meu papel de fala não deve significar o papel de silêncio do outro, ele significa que vou contar a partir das minhas experiências.
Leia também: Artigo | Por que falar em LGBTfobia e não homofobia
Caê – Você pode citar alguns exemplos?
Jup – Muitas vezes a gente oculta pensamentos e reais transformações porque “tal pessoa lançou uma piadinha racista, mas era só uma piada” ou “uma pessoa tá sendo transfóbica, mas eu conheço ela, ela não seria transfóbica”. São nessas pequenas percepções que conseguimos implementar mudanças de fato. Caso contrário, só cabe a gente ter esse papel de didatismo, de ensinar o ABC. A gente não pode só resistir. Eu quero, com o meu trabalho, construir para que as próximas gerações não precisem falar do que eu tô falando agora. Eu quero que as pessoas como eu possam viver, não só sobreviver, ter outras demandas e outras preocupações. Acredito que esse lugar é de muita importância e muita cautela, principalmente quando a gente fala desse corpo coletivo, o quando a gente precisa tornar essa rede afetiva, mas, principalmente, torná-la efetiva para construirmos. Isso eu encontrei com a Linn, com a minha equipe, que são pessoas que conseguem montar esse grande megazord de imaginários e grandes potências.
Caê – Você retificou o seu nome recentemente e, no seu Twitter, quando você ganhou a verificação da conta, você disse que o nome é mais importante. Qual foi o percurso para você chegar hoje, ter seu nome retificado na sua certidão? Quais identidades já passaram por você?
Jup – Eu gosto de falar que eu já fui inúmeras pessoas e que eu tive que matar inúmeras dessas pessoas. A morte e ressurreição em vida acontecem a partir do momento que deslocamos o nosso pensamento a partir de informações exteriores. Eu acredito que nossas mutações se dão a partir do momento que nós queremos nos sentir pertencentes. Essa urgência minha é muito necessária e eu encontrei através da arte a melhor maneira de expor isso.
Da minha infância para minha adolescência, esses lugares de gênero eram mais pertinentes do que a sexualidade. Por isso era tão urgente para mim. Eu achava que, com a hormonização, com a terapia hormonal, seria o estralo de que a qualquer momento eu ia ser visualizada como uma mulher. Eu acreditava que o meu corpo ia se readequar. Com o tempo eu fui vendo que isso não era tão possível e tão óbvio quanto eu imaginava. Quando eu começo a ingressar na música, para além da minha quebrada, quando eu conheci a zona central, eu entendi esse lugar de não-binaridade. E ele me contemplou, me abraçou naquele momento. Eu me entendi enquanto não-binária [pessoa que não se identifica como homem ou como mulher]. A gente não discutia tanto outros tipos de mulheridade. A não-binaridade me coube naquele momento por eu achar que não era digna de ser reconhecida enquanto signo feminino.

Eu tive referências acadêmicas, mas o que me fez entender melhor foram as referências que eu encontrava na rua, nas trocas. A internet também foi um facilitador. A partir de grupos, a gente consegue descobrir que existem outras formas de masculinidades e outras formas de feminilidades. Tudo isso foi vindo mais à tona até o ponto de reconhecer e reivindicar esse lugar de travesti, justamente por ser onde me encaixo melhor neste momento.
Caê – Você sente essa cobrança em se encaixar?
Jup – A gente é cobrada a todo momento sobre essa exatidão de quem nós somos, então muitas vezes queremos trazer a caricatura do que é ser mulher, a caricatura do que é ser homem, que a mulher tem que ser sensível, de voz doce, que o homem tem que ser tóxico e machista. A gente vai pegando essas referências, que são mais imediatas e mais palpáveis. Com o descobrimento das possibilidades do meu corpo, eu comecei a investigar que não precisa ser necessariamente assim.
Leia também: Por que alteração de nome sem cirurgia é conquista para transgêneros
Hoje eu me reconheço enquanto travesti, o signo feminino faz parte do meu corpo, mas eu não sei até quando eu vou ficar satisfeita nesse corpo. A contradição se dá nesse empoderamento compulsório de que a gente precisa estar bem sempre, se sentir bonita sempre, precisa estar feliz com o nosso corpo sempre. Tudo isso pode ser muito agressivo, porque estamos colocando para fora uma representação da internet que não condiz com o que estamos sentindo. Hoje eu consigo reconhecer que tá tudo bem eu não me sentir bonita todas os dias, tudo bem eu olhar para o espelho e falar “porra, gordona, hoje você tá cheirosa, você tá gostosa, que vontade de te morder”. O corpo é isso, a mente é isso, essa inflexibilidade e flexibilidade de rupturas. Vivemos em uma construção de uma beleza eurocêntrica em um dos países mais diversificados em cultura, raça e belezas.
Leia também: Impedidas de usar o banheiro: a realidade de pessoas trans no Brasil
A retificação entra muito maior do que qualquer verificação porque é um lugar que eu me sinto confortável. Em longo prazo, isso vai acabar sendo um papel com o símbolo da república. Aquilo não vai me dar maior passabilidade, não vai me dar passes livres em banheiros públicos. Mas, pelo menos, eu vou ser enterrada com dignidade, usufruindo de um direito que foi batalhado há muito tempo atrás. É uma reivindicação enquanto cidadã. É um ato político de posse sobre o meu corpo, porque sempre foi o papel do homem nomear. Agora eu tomo posse desse território e me nomeio: Jup Lourenço Mata Pires, de signo feminino.
Caê – É muito sobre como a sociedade cobra da gente a hormonização, as cirurgias… Estou em transição há três anos e achava que estava escrevendo sobre o outro, enquanto jornalista, mas estava começando a minha transição.
Jup – Isso é muito curioso. Eu comecei a ir migrando a minha transição, destinando ela a arte, porque é uma forma de canalizar. A gente quer flertar, mas é tudo tão confuso, de entender essa possibilidade como uma possibilidade, que eu ia flertando. Era uma desculpa de usar peruca, de poder executar o uso de pronomes femininos. A gente vai entendendo a partir desses flertes mesmo.
Caê – O meu TCC foi sobre pessoas trans, então eu não precisava me dizer uma pessoa trans. Por isso o ‘Bixa Travesty’ é importante para mim, porque eu tinha uma imensa dificuldade de abrir mão do termo sapatão. Eu quis me apropriar do termo homem trans e mostrar que existem outras formas de masculinidades. E só quando comecei a hormonização, as pessoas me falaram “ah, você começou a transição?”, mas não, a minha transição começou há três anos.
Jup – As pessoas tratam esse lugar de transição como se fosse um lugar exato. Agora, sim, eu sou uma pessoa trans. Mas a transição é para o resto da vida. Você vai adquirindo informações e atravessamentos, sejam eles hormonais ou de carácter psicológico, que é para o decorrer da vida. Até isso a cisgeneridade quer deter: até onde seu corpo precisa ir, qual é o ideal para o seu corpo. Se corta, se enche de remédio, porque aí eu vou te tratar como qual. E tem esse recorte específico. Mulheres trans e travestis não são mulheres, são mulheres trans, são travestis. Homens trans ou transmasculinos [pessoas não-binárias que preferem ser tratadas no masculino], que não são homens. É um jogo muito perverso.
Caê – Sobre o “Corpo sem juízo”, como que foi a sua construção? Quais as suas inspirações para construí-lo?
Jup – O álbum passa pelos três estágios de um corpo: nascimento, vida e morte. Não é necessariamente nessa ordem. O “Corpo sem juízo” entra no EP como faixa-bônus, como acapella. O que eu queria com esse álbum era destrinchar o single, como se o EP fosse a versão extensiva. Eu quis colocar esse recorte. Quando eu começo com “Transgressão” é um momento de morte, mas ao mesmo tempo de vida. É quando uma dessas mortes em vida acontecem. Eu venho em uma metáfora da metamorfose de uma borboleta, onde “tá tudo tão estranho aqui”, “tão quente e tão frio”. Essa escuridão que remete a essa morte, a partir do momento em que a rachadura aparece e a luz começa a invadir esse lugar, até encontrar vida, mas que para seguir nessa vida é preciso ter sorte. É um pedido de se deixar voar, de se libertar, transgredir, mudar a norma, é transformar, é transtornar.
Daí, vamos para o interlúdio “O que pode um corpo sem juízo?”, que conversa muito com o single de “Corpo sem juízo”, que eu lancei no ano passado, com a presença de Conceição Evaristo e Matheusa Passareli, justamente por entender que os nossos corpos já são destinados a uma performance antes mesmos de nascermos.
A partir da genitália é como se colocassem um destino já traçado para aquele corpo, que seja, preferencialmente, cristão, cisgênero, de performances que se encaixem na heterocisnormatividade [norma e padrão único de comportamentos na heterossexualidade e na cisgeneridade]. Acaba sendo um manifesto, de que os nossos corpos são plurais a partir do momento em que todas essas representações e essas performances vêm de forma exterior, a partir da geografia, da cultura, da acessibilidade. Então essa faixa investiga esse universo que permeia o nascimento.
Aí a gente entra em um dos principais lugares de um corpo que foge da norma, foge da linguagem representatividade da branquitude, que são corpos já fadados à depressão, à ansiedade. “Pelo Amor de deize” acaba sendo um lugar em que eu destrincho a questão da saúde mental. Uma das minhas preocupações é que não fosse só alertar sobre saúde mental, mas que eu conseguisse provocar um lugar de solução. Esse meu encontro com a Deize Tigrona e, principalmente, quando chega no áudio final da faixa, representa muito essa rede de suporte, de perguntar como a pessoa está, dizer que ouviu uma música e lembrou da pessoa.
A Deize é uma artista que eu admiro muito desde a infância e me pegou muito quando ela começou a ter falas de depressão. A gente não tem tanta informação de saúde mental nas periferias e acaba suando uma doença de rico, uma frescura, e acabam invisibilizando esse lugar de saúde, acaba sendo muito mais uma personificação de sentimentos do que uma doença.
Caê – E o acesso é muito difícil na quebrada, né. Passei por isso com a minha mãe, quando ela precisava de atendimento psicológico e não conseguimos acesso.
Jup – É muito difícil. Sem contar que a saúde mental e física é muito caduca. Ainda estão se inspirando em teorias passadas, de corpos passados, sem validar as novas performances de corpo. Inclusive de pessoas cis, porque a partir do momento em que a gente vive em um plano que organicamente vai se mudando, vai mudando o clima, a terra e tudo que está ao nosso redor, seja na nossa visão clínica ou não, ela é mutável. É inevitável não pensar que esses corpos mudam. Mas acaba que essa saúde continua sem avanço, sem se preocupar com esses corpos, que dirá corpos trans. Por isso acaba sendo tão difícil. A gente vê inúmeras pesquisas que mostram como depressão e ansiedade tem crescido, principalmente pelo que é passado para gente no mundo virtual, em que as pessoas estão sempre felizes, como eu não estou feliz? Então não sou digna de viver. Isso vai criando estigmas. Mas o que está sendo feito de fato? Que política pública está agindo sob esses corpos? Acaba sendo uma desumanização desses corpos, sendo apenas números, assim como acontece com o genocídio da população preta.
Ouça também: PonteCast | A população LGBT+ na pandemia: riscos e soluções
Falar sobre saúde mental é fundamental. Ter o mínimo de sanidade é o maior ato político. Principalmente no cenário brasileiro, que temos ansiedade com a política, com a pandemia, racismo e inúmeras outras demandas que acontecem de forma simultânea e acabam sendo muito difíceis de dar conta. Nesse momento é contar com as minhas redes, com as pessoas ao redor.
Caê – E como foi criar “All you need is love”, que também tem Rico Dalasam e Linn da Quebrada?
Jup – Essa música entra em um lugar enquanto vida, que representa as nossas relações e afetos. Mas eu tento trazer uma criação de um novo amor, é a destruição do amor antigo e a construção de um novo amor para contemplar outros corpos. É muito importante que essa música vai para além de uma música sensual para estar na sua playlist de sexo. Ela vem enquanto proposta que enquanto um corpo preto, gordo, trans criando uma narrativa de tomar posse para construir uma nova possibilidade de amor.
Leia também: Especial Trans | Dois contra o mundo
A partir do momento que a gente reconhece que o desejo é construído, eu acredito que o desejo possa ser reconstruído. Eu acredito que um outro avanço que precisamos ter é que já falamos tanto da desconstrução, desconstrução da masculinidade, desconstrução de feminilidade, mas acabo que ficamos refém dessa fala. Mas o que vem depois da desconstrução? É como reconstruir. Por isso que eu chamo Linn e Rico para arremeter essa construção de orgasmo sonoro de criação junto comigo para esse lugar de afeto.
A letra foi escrita de uma forma muito espontânea, porque eu tenho uma facilidade para compor muito fácil. Tem composições que eu demorei dez anos, como “Corpo sem juízo” e “Transgressão”, mas “All you need is love” foi muito rápida. Eu estava indo para um lugar que não era aquilo, a Badsista [DJ que produziu o disco] não gostava da base, e essa música nem ia ser distribuída nas plataformas digitais, ia ficar como bônus do disco físico. Aí quando eu fui construindo eu pedi uma chance.
Aí eu dormi, com um olho aberto e outro fechado, e comecei a ouvir a base e tive um estralo. Levantei de madrugada e escrevi. No outro dia eu acordei a Badsista e falei que queria cantar para ela. Ela curtiu e aí mostrei para o Rico e ele falou que poderia gravar no dia seguinte. Com a Linn também. E aí virou um grande estouro.
Leia também: Rico Dalasam: negro, gay e pobre são tags do abandono
Daí passamos para a faixa “O corre” que é praticamente a trilha de the fresh princess of Capão Redondo, porque tem um apelo mais new school de hip hop mais anos 1990 e conta de uma maneira tragicômica a minha visão enquanto juízo final. É quando eu olho para trás e vejo tudo o que aconteceu na minha trajetória. Começo a destrinchar de uma maneira que parece engraçada, mas é aquele pense e dance, porque a batida faz com que você se mexa, mas a letra faz com que você pense.
É um lugar de reconhecimento para pessoas da periferia muito grande. Tem uns perrengues que a gente sabe quando passa nessas infâncias de lugares não centrais, principalmente de necessidade. É ter que fazer esse corre, de colocar comida na mesa, mas também desejar os produtos da Avon. É beijar as boquinhas no colégio, mas se preocupar com o carnê das Casas Bahia.
Vai passando por essa narrativa até chegar em “Luta por mim”, que é a faixa que tem a participação do Mulambo. Quando eu conheci o Mulambo… foi em uma apresentação que há muito tempo eu não sentia tão atravessada. Eu conheci ele em um show dele. Quando eu vi aquela força, ele de um lado para o outro no palco, meus olhos enchendo, sendo preenchidos, além da pertinência e força que ele falava. Eu fiquei extremamente impactada. Quando eu fui me apresentar para ele eu só disse que queria trabalhar com ele. Eu queria realmente construir algo com ele. Vendo aquela força. E, de alguma forma, me reconheci nele e aquilo foi muito forte.
Aí fomos trocando ideia e eu já tinha algumas escritas da música e mostrei pra ele, com o beat, que é totalmente diferente do que nós dois já trabalhamos, então foi um desafio que ele topou de primeira. Uma coisa que eu sou muito fiel é o tempo da obra. Quando eu componho uma música eu acredito que uma música tem que ter o tempo dela. Quando ele me mostrou as escritas eu falei que era exatamente isso.
A música ficou uma grande música pensando enquanto o mercado tem pensado em questão de tempo, porque geralmente as músicas precisam começar com refrão, tem que ter até três minutos para a melhor comercialização e tudo mais. Esse álbum vem de um lugar outro, de um tempo outro. Acabou que é uma música longa, mas ela instiga a saber o que está sendo falado ali. Ela vem para criar um desconforto para quem precisa. Por isso é uma música muito importante para fechar esse EP, falando de morte, mas que também entra em contradição.
Ao mesmo tempo em que essa música é construída a partir de um epitáfio, ela tem a profetização, no final, da vida. Para mim e para as minhas, de que eu não vou morrer. E isso reconfigura esse lugar de vida novamente, em que vem a capella de “Corpo sem juízo”.
Caê – Para fechar, queria que você falasse um pouco como é para você, que há 6 anos pensou em desistir da carreira, ver o resultado desse álbum. Como é ver esse trabalho na rua?
Jup – Estou muito feliz, mas o sentimento de alívio é muito maior. Como eu demorei mais de 10 anos para lançar um disco, eu achei que não seria possível, de inúmeras maneiras. Por ter algum impedimento na minha vida, que eu tivesse algum bloqueio criativo ou que não tivesse mais um interesse nisso. Por isso, com uma real modéstia, eu colocava esse trabalho como um presente para a minha geração, porque seriam letras que só poderiam ter sido canalizadas por mim, a partir do meu corpo, das minhas experiências. Por isso que eu fico muito feliz, mas principalmente aliviada.
O EP está conseguindo ganhar um tamanho muito grande, de reconhecimento do meu corpo e uma indústria fonográfica que não foi pensada em mim, não foi pensada para minha existência. Estar falando contigo, principalmente representando a Ponte, que é um portal de notícias que eu acompanho muito, é muito importante e faz com que eu perceba a importância desse trabalho. Para além da imprensa, tenho recebido muitas mensagens e nem estou conseguindo responder todas, mas eu tenho lido e é muito gratificante saber que esse EP está sendo tão importante para tantas vidas. E de formas diferentes.
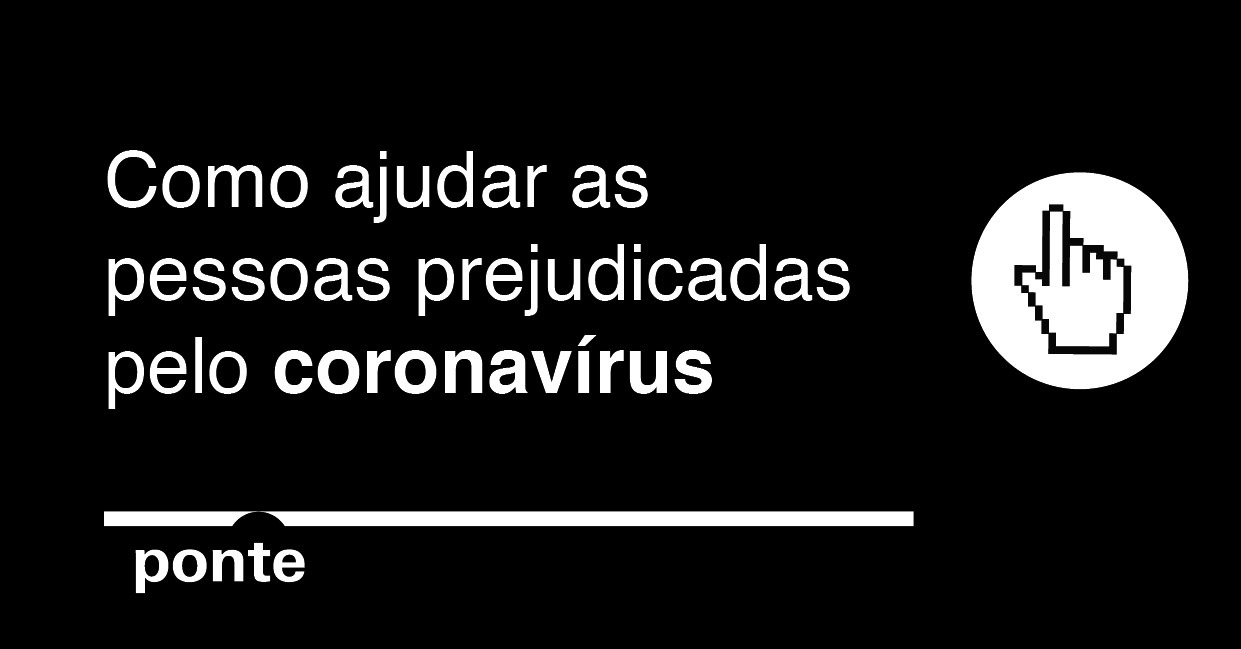
[…] VASCONCELOS, Caê. Jup do Bairro, artivista trans: ‘Não existe corpo errado e certo. O certo é o meu corpo’. Ponte, 2020. Disponível em: http://ponte.org/jup-do-bairro-artivista-trans-nao-existe-corpo-errado-e-certo-o-certo-e-o-meu-corp… […]